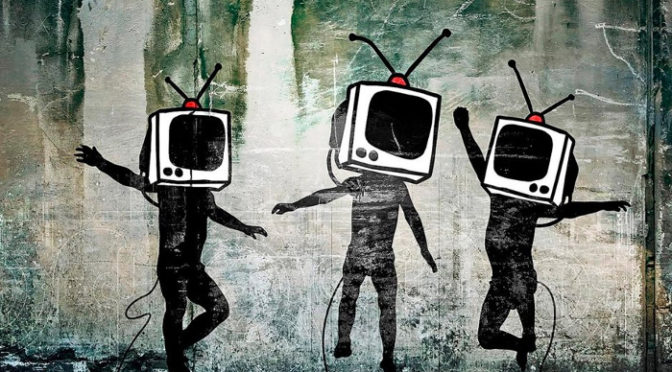Por Luis Felipe Miguel
Nos regimes que, em geral, aceitamos como “democráticos” o povo não governa. Sua influência nas decisões políticas é filtrada por mecanismos de intermediação, entre os quais a mídia. A falsificação escancarada e a omissão deliberada não resumem o repertório de formas de intervenção política da mídia. Ainda mais crucial é o poder de determinar a agenda que receberá atenção pública, os agentes e as posições relevantes. Há casos de manipulação ostensiva, mas o mais importante é o efeito sistemático da reduzida pluralidade do noticiário.
O conceito de “democracia” é envolto em polêmica. Por um lado, a palavra significa “governo do povo”. Por outro, ela se refere a um conjunto de instituições políticas, em particular a eleição popular para as posições de poder. Os dois sentidos não se casam. Nos regimes que em geral aceitamos como “democráticos”, o povo não governa. Sua influência nas decisões políticas é filtrada por mecanismos de intermediação – que podem ser, e geralmente são, enviesados em favor de alguns interesses e grupos sociais e em detrimento de outros.
Um desses mecanismos de intermediação é a representação política. Outro é a mídia. Os meios de comunicação de massa são (1) a principal fonte de informação dos cidadãos sobre o mundo social, (2) o principal canal de difusão dos discursos dos líderes políticos e (3) o principal ambiente em que se dá o debate político. Sua centralidade na política contemporânea é admitida pelo público em geral e comprovada pela atenção obsessiva que os candidatos às posições de liderança dedicam à gestão de sua imagem nos meios, mas é, em geral, negligenciada pelos modelos da ciência política – e, claro, negada pela própria mídia.
Dois eventos de 2016 ajudam a iluminar a influência da mídia nos processos políticos democráticos. Um é a eleição presidencial nos Estados Unidos, que terminou com a vitória, algo inesperada, de Donald Trump. Outro é o golpe que depôs a presidente Dilma Rousseff, no Brasil.
A eleição de Trump foi embalada pela divulgação de notícias falsas contra seus adversários – primeiro, os oponentes nas prévias republicanas; depois, a candidata democrata Hillary Clinton – e deu origem à ideia de “pós-verdade”. Haveria uma decadência da possibilidade de debate público uma vez que grupos de cidadãos se orientavam por boatos e falsificações, no lugar da informação verdadeira que viria do jornalismo tradicional.
De fato, as novas tecnologias elevaram a um novo patamar o uso da mentira e do boato como armas de manipulação política. Trata-se de um problema grave, para o qual ainda não existem soluções, e cujo impacto na democracia é mesmo grande. Além disso, elas segmentam o público em bolhas que pouco se relacionam entre si, comprometendo a existência de um universo comum sobre o qual o debate se dá. Mas o discurso da “pós-verdade” contrabandeia a velha ideia de que o jornalismo é um canal neutro por onde passam os “fatos”, de forma objetiva, neutra e imparcial.
Ainda que hoje esteja disseminada a crítica aos ideais canônicos de imparcialidade, neutralidade e objetividade jornalísticas, que primeiranistas de comunicação já reconhecem como inatingíveis e enganadores, eles continuam centrais na produção da legitimidade da mídia diante do público. Em relação ao sistema político, o discurso ostensivo do jornalismo é a posição de cão de guarda, desvelando as ações dos funcionários do Estado e permitindo que a cidadania os julgue. De acordo com a expressão convencional, ele seria o “quarto poder”, cuja função é controlar os outros três – o que converge com a outra metáfora, já que a forma específica deste controle é dar publicidade aos atos dos governantes, de maneira que o público esteja capacitado a fornecer seu veredito. O jornalismo seria o principal mecanismo para permitir a accountability do sistema político (e a accountability aparece como a forma de garantir o caráter democrático das instituições políticas).
Essa narrativa é mítica. A imparcialidade é inacessível, mesmo que seja buscada com sinceridade, uma vez que todos nós vemos o mundo a partir de uma determinada perspectiva – vinculada à nossa posição social, à nossa trajetória e aos interesses aos quais estamos ligados. No momento em que define quais são os fatos que serão noticiados e qual o destaque que cada um receberá, o jornalismo aplica critérios de seleção e de hierarquização que estão longe de ser objetivos (como queria a teoria dos valores-notícia, hoje desacreditada). Mas esses critérios passam a transitar socialmente como universais exatamente porque ganham a visibilidade concedida pela mídia. Quando o jornalismo transforma um fato em notícia, faz com que ele receba atenção pública e o torna importante por isso. Quando aplica sua própria regra e decide “dar voz aos dois lados”, está determinando quais lados da controvérsia são os relevantes. Ao exercer sua função de cão de guarda e denunciar as transgressões de funcionários públicos, transforma em fato aquilo que é um julgamento moral de valor e, assim, contribui para fixar uma determinada fronteira entre certo e errado. As escolhas do jornalismo, portanto, incidem sobre o mundo social e ajudam a moldá-lo.
Embora seja necessário, por motivos óbvios, estabelecer salvaguardas que impeçam a disseminação de informações mentirosas, esta é apenas a faceta menos complicada do problema. A falsificação escancarada e a omissão deliberada – que existem e não são infrequentes – não resumem o repertório de formas de intervenção política da mídia. Ainda mais cruciais são o poder de determinar a agenda, isto é, o conjunto de questões que receberão atenção pública, e, dentro desta agenda, quais são os agentes e as posições relevantes. O desafio não se coloca mais em termos de adesão à realidade factual, mas de sensibilidade às diferentes perspectivas, valores e interesses que presidem os critérios de hierarquização dos diferentes grupos sociais. Em resumo, o nó da questão não está na imparcialidade, mas no pluralismo.
É aqui que o golpe ocorrido no Brasil em 2016 serve de exemplo. A mídia empresarial brasileira está toda do mesmo lado do espectro político. Desde que houve a redemocratização, as redes de televisão, os grandes jornais impressos e as principais revistas “de informação” estiveram sempre do mesmo lado. Isso leva a escolhas uniformes – quanto à agenda, ao enquadramento e ao destaque dado a diferentes notícias. Há casos de manipulação ostensiva, mas o mais importante é o efeito sistemático da reduzida pluralidade do noticiário.
Ela é perceptível facilmente, desde que se consiga ganhar alguma distância e desnaturalizar seu conteúdo – e não é um problema apenas brasileiro. Atentados, desastres e crises humanitárias ocorridos na Europa Ocidental têm destaque muito maior do que os ocorridos na África subsaariana. Especulações sobre a queda de um ministro ganham mais espaço do que o assassinato de um líder camponês. O crime no bairro rico repercute mais que o crime no bairro pobre. As oscilações na bolsa de valores geram mais manchetes do que o poder de compra dos salários. As lutas pelos direitos das mulheres não entram na pauta de política. Os exemplos se multiplicam; em todos os casos, revelam os efeitos da origem de classe, dos ambientes frequentados e das expectativas e preconceitos compartilhados de jornalistas, proprietários de empresas e anunciantes, que incidem sobre a determinação das fronteiras entre importante e desimportante, extraordinário e corriqueiro, próximo e distante.
Quanto mais plural é o conteúdo da mídia, maior a diversidade de visões de mundo disputando a esfera pública. Trata-se de uma exigência para o funcionamento efetivo do regime democrático. É possível ver nos meios de comunicação de massa uma esfera informal de representação política: já que é impossível que todos intervenham diretamente no debate público, ele é travado no ambiente proporcionado pela mídia por representantes das diferentes posições políticas e interesses sociais. Quanto mais enviesada é essa representação, pior a qualidade da mídia – e da democracia.
Muitos fatores contribuem para a redução do pluralismo jornalístico. A origem social dos profissionais costuma ser similar; mesmo que não o seja, eles passam por processos comuns de socialização nas faculdades e nas redações. As empresas são organizações capitalistas voltadas para o lucro, assim como os anunciantes, o que já circunscreve um conjunto bem determinado de interesses. Vantagens comparativas favorecem a concentração da propriedade da mídia, seja pelo fato de que a “sinergia” entre veículos de diferentes plataformas reduz gastos, seja porque quem atinge um grande público oferece um custo proporcional menor para os anunciantes. A concorrência comercial, a ideologia da objetividade e a competição interna no campo jornalístico, estruturada pela dicotomia “furar”/“ser furado” trabalham, todas, na direção da homogeneização dos conteúdos. Ampliar a pluralidade exige, portanto, vontade política, traduzida em medidas para frear a concentração da propriedade das empresas, em fortalecimento de um setor de mídia pública que estabeleça critérios de excelência profissional independentes das pressões do mercado e em estímulos à produção de informação por grupos sociais que não se veem incluídos nos meios tradicionais.
Esta vontade nunca se fez presente no Brasil. A literatura sobre jornalismo costuma distinguir “pluralismo interno”, quando um mesmo veículo busca apresentar várias visões diferentes, e “pluralismo externo”, quando diferentes veículos verbalizam as diversas posições. O Brasil falha de um jeito e do outro.
Não se trata de dizer que não existam expressões de opiniões diferentes – elas existem, na medida em que não há censura formal e o princípio liberal da liberdade de imprensa é, em linhas gerais, observado. Mas cabe observar que os meios de comunicação produzem o ambiente público de discussão política na medida em que funcionam como um sistema, em que os temas colocados para debate (a “agenda”), os atores dignos de atenção e os elementos que balizam a compreensão de cada problema (o “enquadramento”) são reforçados pela cobertura singular de cada veículo. Dito de outra forma: o pequeno pluralismo proporcionado, no caso brasileiro, pela presença de certas publicações alinhadas ao Partido dos Trabalhadores e de alguns poucos veículos, ainda menores, posicionados à esquerda do PT é anulado por sua exclusão do sistema. Veja, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e Rede Globo repercutem uns aos outros, gerando uma pauta comum, mas as reportagens publicadas em CartaCapital ou Brasil de Fato são sistematicamente ignoradas por eles.
Para alguns, o problema do controle da mídia estaria sendo resolvido pelas novas tecnologias da informação. Os veículos tradicionais estão nas mãos de uns poucos, mas todos podem estabelecer blogs na internet ou abrir contas em redes sociais e, assim, ingressar no debate público. No entanto, a capacidade de orientar a atenção pública, definindo a agenda e os enquadramentos dominantes, continua concentrada nos meios convencionais. A despeito da relevância das novas tecnologias de informação e comunicação na formação de redes, na mobilização de ativismos e na disseminação de percepções alternativas da realidade, sua posição é sobretudo reativa à agenda e à leitura do mundo social presentes na mídia tradicional. Por mais importantes que as reações possam ser, elas não disputam a produção da agenda pública, que permanece crucial.
Na internet, muitos debatem e tentam reinterpretar um repertório que, no entanto, continua vindo maciçamente do jornalismo tradicional, responsável, segundo levantamentos feitos nos EUA, por algo como 90% de toda a informação presente nos espaços de notícias online. Além disso, a internet tem tido o efeito de tornar os veículos de comunicação ainda mais dependentes dos interesses políticos. As novas plataformas de comunicação favorecem a circulação de informação grátis. Isso compromete, em primeiro lugar, a vendagem dos veículos impressos. Mas elas permitem também que os consumidores de informação escapem da publicidade comercial. Apesar dos gigantescos esforços das empresas, a propaganda online se mostra menos eficaz, seja porque é eliminada nos múltiplos compartilhamentos da informação, seja porque existem ferramentas para fugir dela, seja ainda porque enfrenta a resistência dos usuários que a veem como uma imposição que prejudica a fruição dos conteúdos que desejam acessar.
A informação tem custo para ser produzida, mas o público se mostra cada vez menos disposto a pagar por ela – seja diretamente, seja indiretamente, consumindo anúncios. A contradição ganha um segundo nível quando se leva em conta que boa parte dessa informação grátis é reciclada daquilo que foi produzido por veículos que continuam tendo o lucro por objetivo. Em suma, o atual sistema de produção de notícias se tornou insustentável. Mas, para jornais e revistas, reside aí um último capital: eles permanecem com a capacidade de influenciar a chamada “opinião pública”. Se isso não se converte mais com a mesma facilidade em verba publicitária (pois a reportagem, quando reprocessada nas redes sociais, não é acompanhada pelo anúncio presente no veículo tradicional), por outro lado mantém a mesma relevância política. Assim, as circunstâncias incentivam os jornais e revistas a retornar à posição de instrumentos políticos abertos, tal como no século XIX, abrindo mão da pretensão à “neutralidade” e à “objetividade” que adotaram depois. Desse ponto de vista, o que importa não é fechar as contas no azul, mas exercer a máxima influência no debate público, em favor das posições que abraça.
Embora o financiamento pelo mercado (de anunciantes e de leitores) tivesse problemas, ele permitia sustentar uma deontologia apoiada em valores de independência e imparcialidade, que nunca eram inteiramente realizados, mas formavam um horizonte normativo. Hoje, este horizonte está cada vez mais longínquo.
As novas tecnologias mudam a relação entre meios de comunicação de massa, poder econômico e poder político. Mas não eliminam a centralidade da mídia, nem a necessidade, para quem deseja construir uma ordem democrática, de enfrentar o gargalo representado pelo controle da informação por um punhado de grupos privados.
Luis Felipe Miguel é professor titular do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades (Demodê), e pesquisador do CNPq. Publicou, entre outros, os livros Mito e discurso político (Editora Unicamp, 2000), Democracia e representação: territórios em disputa (Editora Unesp, 2014), Feminismo e política: uma introdução (com Flávia Biroli; Boitempo, 2014) e O nascimento da política moderna: de Maquiavel a Hobbes (Editora UnB, 2015).