Por Suzana Petropouleas
Embora a moda possa ser uma potente forma de arte e expressão de movimentos de vanguarda e revolução, também é uma enorme força da indústria de massas para mercantilizar e diluir movimentos de resistência como o feminismo.
Quando a gaúcha Clarissa Wolff iniciou seus estudos na faculdade de moda, deparou-se com um universo bem diferente daquele que esperava. “O que me deixava apaixonada pela moda era a expressão e a arte – e a indústria é muito menos sobre isso do que eu imaginava”, conta.
Clarissa, que se descreve como uma feminista “das mais chatas”, hoje é escritora – assina uma coluna de literatura na revista Carta Capital e seu primeiro romance, Todo mundo merece morrer, acaba de ser lançado pela editora Record. Em seu site, escreve sobre moda a partir de uma perspectiva crítica. “Ainda desejo cegamente bolsas da Chanel”, assume. “Mas, atualmente, evito comprar em fast fashion – tento comprar basicamente de marcas pequenas, independentes e locais, ou de brechós”.
A escritora relembra a história da marca icônica francesa como uma série de importantes disrupções – diluídas num todo pra lá de controverso. “A Chanel nasceu como uma maison revolucionária: a Coco (Coco Chanel, fundadora da marca e uma das pessoas mais importantes do século XX segundo a revista Time) usava calças em uma época em que isso parecia impossível. Ela detestava Christian Dior porque, além de roubar os holofotes, ele colocou as mulheres de volta na silhueta do espartilho. Hoje, a Chanel é um dos ícones do conservadorismo na moda e no mundo, mas esquecemos que o que a fez ser o que ela é hoje foi justamente ir contra o status quo”, relembra.
Em 2014, a marca francesa lançou a coleção primavera-verão 2015 na Semana de Moda de Paris com um desfile cujo encerramento – uma espécie de encenação de um protesto feminista de maio de 1968, com modelos empunhando cartazes com slogans vazios como “liberte a liberdade” e “seja diferente” – aplaudido pela crítica especializada. “O que Lagerfeld (estilista-chefe da marca à época do desfile) faz é usar um movimento social como acessório de moda para lucrar. A melhor forma que existe de neutralizar a resistência é absorvendo-a”, escreveu Clarissa sobre o desfile. “As ativistas das décadas passadas lutavam pelo fim da violência doméstica e do estupro”, ressalta.
“Em cima de uma passarela, encenada por modelos em sua maioria brancas, magérrimas e lindas, algumas tão famosas que já se tornaram celebridades, vestindo roupas de etiquetas caras, o feminismo é inofensivo. Ali, ele é engolido pelas classes dominantes e regurgitado em um versão palatável para os interesses dos grandes, Transformado em produto de consumo, não tem nada de revolucionário – ou de feminista”, avalia.

Jade Vilar de Azevedo, jornalista formada pela Universidade Federal da Paraíba, apaixonada por moda e autora da pesquisa “Feminismo de revista: análise da apropriação do movimento feminista pelo mercado a partir da revista Elle”, vê nessa e em outras ações de marcas estratégias claras de um mercado preocupado em mais do que lucrar com novas tendências. “O mercado investe bastante em pesquisas de tendências exatamente para saber o que eles podem transformar em mercadoria – inclusive ideologias”, explica. “O ano de 2015 foi um marco na mudança de posicionamento das marcas. Uma série de eventos levaram o feminismo, por exemplo, a ser um dos assuntos mais debatidos na sociedade, e cada dia mais mulheres passaram a questionar as estruturas sociais. Ou as marcas adaptavam-se ou perderiam vendas. A escolha foi clara: apropriarem-se do movimento, antes que ele as desapropriasse”.
Mas se a lógica lucrativista do capitalismo transforma as indústrias de moda e cultura em mercados de slogans de movimentos de resistência, nem sempre foi assim. “Em vários momentos históricos, a moda foi instrumento de resistência, luta e revolução”, conta Jade. “A moda é comunicação, uma ponte entre o seu eu e o seu existir no mundo e é um veículo que permite que você converse com o ambiente em que irá se inserir sem ao menos proferir uma única palavra. Porém, também tem um outro lado, que serve como uniformizador de corpos, aparências e vivências. É dualidade”.
(Pós-)feminismo de revista
As principais publicações de moda, como Elle e Vogue, também passaram a discutir assuntos como racismo, gordofobia e feminismo, especialmente a partir de 2015. Naquele ano, a discussão sobre o tema cresceu no Brasil – foi o ano de implementação da lei do feminicídio no país, e quando a ativista feminista Simone de Beauvoir foi referência para o tema de redação do Enem.
“É cada vez maior a quantidade de leitores críticos, realmente dispostos a desconstruir padrões sistematicamente postulados e divulgados pelos meios midiáticos”, avalia Jade. “Nos Estados Unidos, a Teen Vogue tem sido a principal publicação da editora Condé Nast, responsável por grande parte do tráfego do site – e esse movimento começou justamente quando a marca decidiu falar de forma séria sobre política, feminismo, representatividade e outras questões sociais”, compartilha Clarissa.
A revista americana Teen Vogue, criada em 2003, nomeou em 2016 a primeira editora-chefe negra do gigantesco conglomerado de mídia Condé Nast. Elaine Welteroth e Phillip Picardi, diretor digital da publicação, lideraram a expansão do conteúdo da revista para muito além de moda e beleza. A revista passou a contar com sessões de política e atualidades e a abordar questões sobre identidade, feminismo, racismo e inclusão. A mudança no formato chocou pela audácia num grupo editorial reconhecido pelo conservadorismo. Além disso, sua implementação ocorreu num momento em que a marca observava um expressivo declínio nas vendas. Welteroth e Picardi, cada um também parte das minorias que a revista agora buscava alcançar e muito mais jovens do que o comum em cargos de liderança como os seus – ela, com apenas 29 anos e negra; ele, gay, com apenas 24 – afirmavam querer oferecer mais às suas leitoras. “Sempre tivemos interesse na moda como um meio de autoexpressão e uma forma de contar histórias, então dizer a uma adolescente que ela deve limitar-se a batons enquanto ela é diretamente afetada pela política, que também afeta seu estilo de vida e daqueles ao seu redor, seria sinceramente irresponsável”, contou Picardi em 2016.
A aposta deu certo. Embora a revista não tenha resistido à corrosão do mercado impresso que e tenha deixado de circular na versão impressa em 2017, os acessos no website dobraram em cerca de um ano. O texto mais lido em 2016 no website da Teen Vogue foi um artigo de opinião com duras críticas à atuação de Donald Trump.
Welteroth e Picardi deixaram a Teen Vogue em 2018, mas a marca mantém o conteúdo e posicionamento políticos que dobraram sua audiência online desde 2016. Atualmente, a seção “News and politics” é a primeira a aparecer no menu principal do website. Em setembro de 2018, lia-se na manchete da principal matéria em destaque na seção “Fashion”: “A moda está se tornando mais diversificada – exceto quando se trata de pessoas com deficiências”. O texto traz o perfil e retratos de três modelos portadoras de deficiências físicas (duas delas, negras) e alerta que, embora observem-se avanços na indústria em termos de raça e medidas, essas profissionais ainda são excluídas. Na cobertura do Emmy 2018, maior premiação da TV americana, a matéria em destaque na página inicial da revista também é política: “Veja quantos Emmys foram necessários para que alguém negro ganhasse”, lê-se no título.
O jornal britânico The Guardian defendeu em 2017 o reposicionamento da revista, definindo-a como “uma passional e bem informada, ainda que inesperada, voz para a resistência”. Segundo o jornal, a marca teria conseguido com sucesso reformular sua imagem para “contrapor-se a ideias tóxicas e padrões de beleza”, embora esse movimento não tenha sido altruísta – mas uma resposta precisa, ainda que ousada, às demandas de um público leitor cada vez mais conectado e ativista.
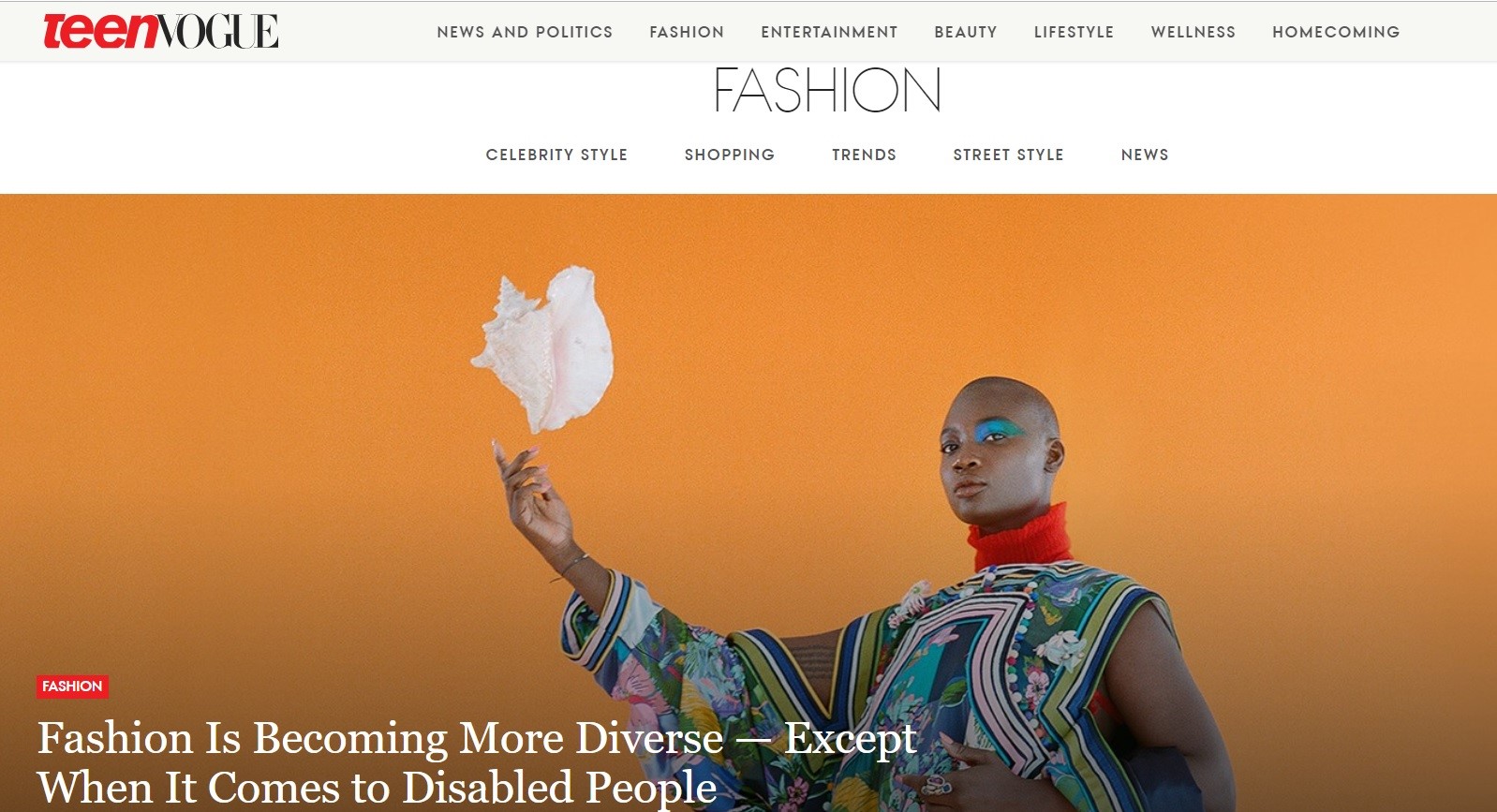
Se a moda trabalha para a manutenção do capitalismo e do patriarcado como ela pode ser revolucionária?”, questiona Clarissa. “A estilista italiana na Dior, Maria Grazia, renovou a marca e fez mudanças ousadas de estilo. Pode ser revolucionária esteticamente, mas imprimir ‘we should all be feminists’ numa camiseta e cobrar 700 dólares é uma incongruência em si mesma”, conta, em referência à camiseta branca de algodão comercializada pela marca em 2017.

Para sobreviver a todas essas mudanças, muitas publicações de moda modificaram seu discurso. Foi o caso da revista Elle Brasil, objeto de estudo de Jade em sua pesquisa. “Uma das estratégias foi utilizar a ideia do feminismo bem-sucedido, que já gerou todos os resultados que almejou e, portanto, se tornou obsoleto – o que Angela McRobbie, teórica feminista britânica conceitua como pós-feminismo”, explica.
O reposicionamento tem sido uma importante estratégia de sobrevivência num mercado sob múltiplas pressões. “As publicações de moda também usaram essa estratégia ao apresentar para o público pequenas parcelas de representatividade, vendidas como uma grande revolução”, explica. “A intenção era que o público achasse que esses veículos tinham realmente se adaptado às novas demandas e que, por isso, agora eles poderiam consumi-los mais tranquilamente. Ao vender um cenário positivo, de igualdade e sucesso feminino baseado no esforço próprio, publicações como a Elle tentavam acalmar os ânimos das mulheres, que estavam em polvorosa, despertando para as opressões sistemáticas”.
Cristiane Costa, professora da Escola de Comunicação da UFRJ, foi orientadora de pesquisas como a de Jade e avalia o trabalho realizado pela mídia de moda em assuntos como feminismo ainda como superficial. “As reportagens podem até ser modernas, falar de diversidade e empoderamento, mas as imagens de modelos brancas (ou de negras com traços finos) e magras prevalecem. E o projeto de empoderamento é desmentido pelas fotos da publicidade nessas revistas”, analisa.
Como Clarissa observou quando adentrou esse universo, moda não é só sobre arte e autoexpressão. Mas se as relações capitalistas também permeiam os avanços nessa indústria, é através das decisões de consumo que apaixonadas por moda como a escritora gaúcha e a pesquisadora paraibana mostram que escolher como e o que não comprar – ou ler – também é uma potente forma de resistência. “Investir em negócios locais, em procedência confiável, em trabalho bem pago, em uma moda que não seja descartável, em tentar lutar contra grandes conglomerados e monopólios. Pensar onde colocamos nosso dinheiro é algo que tem muito poder”, conclui.
Suzana Petropouleas é economista e aluna da especialização em jornalismo científico no Labjor/Unicamp. É bolsista do Programa Mídia Ciência (Fapesp).

