Mariana Garcia de Castro Alves
A pandemia do Covid-19 trouxe um sentimento de proximidade do fim seja do planeta, do sistema ou das vidas individuais mesmas. Diante da ameaça do vírus, não é de se admirar que a ideia de morte esteja muito presente. Com a pandemia, A peste, de Albert Camus (1947) tornou-se best-seller na Europa e obras como Ensaio sobre a cegueira de José Saramago (1995) foram postas em evidência.
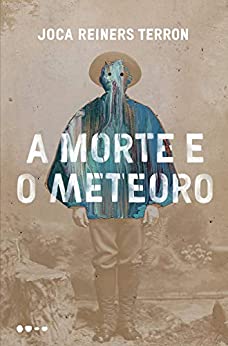 Exemplo recente de narrativa distópica brasileira (e anterior à disseminação do vírus no Brasil) é A morte e o meteoro, de Joca Reiners Terron (Editora Todavia, 2019). Na obra, a Amazônia está destruída e cinquenta pessoas remanescentes de um povo isolado amazônico são transferidas para o México. As atenções mundiais estão divididas entre esse deslocamento e o lançamento de uma missão chinesa para habitar Marte. Diante do fim, a melancolia é patente.
Exemplo recente de narrativa distópica brasileira (e anterior à disseminação do vírus no Brasil) é A morte e o meteoro, de Joca Reiners Terron (Editora Todavia, 2019). Na obra, a Amazônia está destruída e cinquenta pessoas remanescentes de um povo isolado amazônico são transferidas para o México. As atenções mundiais estão divididas entre esse deslocamento e o lançamento de uma missão chinesa para habitar Marte. Diante do fim, a melancolia é patente.
Sobre isso, o escritor mato-grossense declara: “Eu sou sertanejo, portanto sou melancólico: sofro do estado saturnino dos que só têm horizonte e céu e nada mais”. Segundo Terron, “a melancolia do sertanejo é parecida com a do indígena. Vem da certeza de que não podemos fazer nada: o mundo é isso e, ao mesmo tempo, já era”, afirma.
Literatura
A melancolia como constatação da finitude da existência sempre foi objeto das artes. O escritor Moacyr Scliar, por exemplo, em Saturno nos trópicos (Companhia das Letras, 2003), mostrou como a melancolia paulatinamente se tornou um termo antiquado para a linguagem médica. Identificada pela medicina como depressão, o termo passa a se restringir a poetas e a filósofos.
Segundo Jaime Ginzburg, professor da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), “Na literatura brasileira, existem diversos textos, tanto poemas quanto narrativas, que apresentam elementos melancólicos associados com perdas não superadas”, diz. Um bom exemplo é o do escritor Caio Fernando Abreu, portador do vírus HIV. “Em sua obra, os elementos melancólicos estão em narrativas nas quais o corpo é alvo de uma percepção de estranheza pelo próprio sujeito, algo resultante do impacto da Aids no mundo, além da dificuldade de lidar com a esperança, algo associado aos efeitos da ditadura militar”, declara o professor.
Cinema

Já o filme Melancolia (2011), de Lars von Trier, retrata diferentes maneiras de encarar o fim do mundo. Melancolia é o nome de um planeta fictício que, em direção à Terra, irá extinguir a vida humana. Diante do fim, duas irmãs reagem de maneiras opostas.
Por um lado, a deprimida Justine (Kirsten Dunst) passa a apresentar serenidade quando a catástrofe se torna uma certeza. Por outro lado, sua irmã Claire (Charlotte Gainsbourg), retratada como personagem mais equilibrada, desespera-se.
Segundo a psicanalista e doutora em teoria psicanalítica e saúde pública Thais Klein, na pandemia, como no filme de Lars von Trier, o olhar diante da morte se instaura de maneira afirmativa e difusa: “Ao mesmo tempo em que as mortes têm (e devem ter) nomes e rostos, o seu espectro está por toda parte como a sombra do planeta Melancolia”, afirma.
“O desamparo aparece justamente diante da finitude e da impossibilidade de se recorrer a algo (a palavra desamparo utilizada por Freud é Hilflosigkeit, que significa sem ajuda)”, explica Klein, professora do Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) que, juntamente com Regina Herzog, publicou artigo em 2018 sobre o filme.
Segundo a psicanalista, a melancolia escancara a finitude mas pode também ser uma potência criativa. No filme, a saída da melancólica Justine é propor uma “caverna mágica” na qual espera a morte, junto com sua irmã e seu sobrinho criança, como um “estranhamento do longínquo”.
Trauma
No Brasil, cuja realidade tem sido de desamparo pela negação da gravidade do problema pelo Estado, a impossibilidade de fornecer um sentido para o acontecimento – sentido que só pode ser concebido na relação com o outro – é, segundo Klein, o aspecto mais relevante. “Um aspecto importante seria a possibilidade de legitimação dos acontecimentos de forma que se pudesse criar sentidos coletivamente – uma questão muito problemática no contexto brasileiro no qual o desmentido em relação ao aspecto traumático toma forma nas falas dos próprios governantes”, afirma.
O compartilhamento do trauma seria muito importante. Essa possibilidade se expressa, por exemplo, nas discussões sobre os mortos nas ditaduras latino-americanas retratadas no filme Nostalgia da luz (2010), de Patricio Guzmán e, no Brasil, nos trabalhos da Comissão da Verdade.
“Freud mostra que quando uma criança fica com medo do escuro e pede para alguém dizer algo, é porque, conforme atesta a criança “se alguém fala, fica mais claro””, explica Klein. Seguindo essa direção, se a saída de Justine é uma saída criativa, mas individual (ainda que inclua a irmã e o sobrinho), a pandemia revela simultaneamente o descaso com o coletivo e a dimensão coletiva da saúde: “A saída só poderá ser coletiva”, assevera.
Thais Klein relata que, em sua prática psicanalítica, se em um primeiro momento a pandemia causou angústia principalmente àqueles que mantinham defesas rígidas diante do estranho, da transitoriedade, algo característico da neurose obsessiva, ao contrário “os melancólicos, psicóticos e outras configurações subjetivas não pareciam ter sido abalados tão fortemente”, conta. Se, como indica Ailton Krenak no livro Ideias para adiar o fim do mundo (Companhia das Letras, 2019), para as populações indígenas o mundo já acabou no século XVI, com o avanço da pandemia, inclusive vitimando esses povos, tal diferença vai se desfazendo.
Segundo a Articulação de povos indígenas do Brasil (APIB), o vírus chegou nos territórios indígenas de forma avassaladora. Depois de um ano, são mais de mil vidas indígenas perdidas. O “susto” diante de nossa pequenez refere-se a uma posição de separação entre o homem e a natureza: “Outras cosmovisões talvez ajudem nesse caminho”, aponta a psicanalista.
Assim, sobre a diferença entre as tristezas de Justine e Claire, Klein conclui: “Em suma, nem melancólico nem neurótico, a questão talvez seja vislumbrar possibilidades de encarar e elaborar a angústia articulada ao desamparo, afinal, para Freud, ela é também motor do desejo”.
Mariana Garcia de Castro Alves é doutora em linguística pela Unicamp. marianalagarcia@gmail.com

