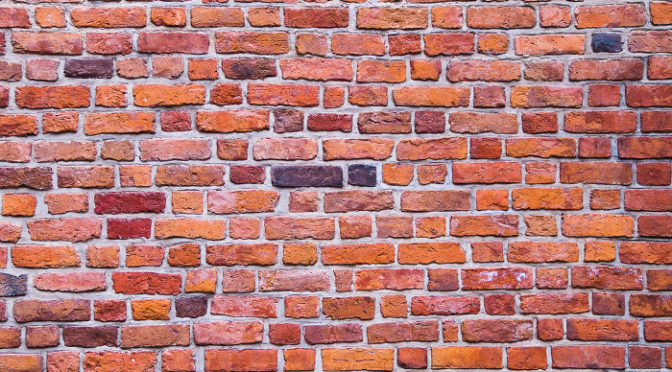Quando uma universidade se nega a constituir, consolidar e promover sua comunicação jornalística própria, das duas uma: ou está sonegando (por preguiça?) da sociedade a riqueza de sua vida intelectual livre ou na verdade está paralisada pelo medo do “perigoso” contraditório (há na verdade uma terceira possibilidade: medíocre, já está melancolicamente morta por dentro).
Uma universidade “fala” por meio das aulas ministradas em suas faculdades e institutos – fala com alunos e alunas (seu público direto) por meio de seu corpo docente. Mas também fala indiretamente com a sociedade: uma aula extraordinária pode eventualmente tornar-se assunto de uma conversa com a família e com o círculo externo de amizades[1] de um(a) aluno(a). Em um terceiro momento, eventuais avaliações e rankings, que em tese consideram a qualidade das aulas, também acabam falando sobre a universidade para a sociedade.
A universidade também fala através dos artigos científicos que seus pesquisadores publicam. Óbvio que não fala diretamente com a sociedade: a comunidade científica afiliada àquela instituição é quem está mostrando seus trabalhos, colocando-os à prova da comunidade científica como um todo. Neste caso, portanto, o público receptor majoritário serão outros(as) cientistas, quase sempre especialistas na mesma área[2]. Outra parcela receptora desses artigos científicos, comparativamente minúscula, será composta por divulgadores de ciência ou jornalistas de ciência, em busca de um assunto que renda uma pauta para reportagem, um artigo de opinião, um vídeo no YouTube. Os mais sérios e experientes saberão traduzir, contextualizar, questionar e dar sabor a esses artigos técnicos, difíceis. Os mais rasos e apressados vão simplesmente tornar o assunto (ainda mais) confuso, e no melhor dos casos vão “cozinhar” o texto (“cozinha” é jargão jornalístico para a atividade pouco nobre de reescrever, bem ou mal, obra alheia). Ainda que ninguém ou pouquíssima gente tome conhecimento de fato dos papers, eventuais avaliações e rankings, que em tese consideram com seriedade a quantidade e impacto das produções científicas, acabam falando sobre a universidade para a sociedade (“Essa aí é produtiva, olha só quanto artigo”, “Essa outra não publica quase nada, saiu no ranking da Folha” etc.).
A universidade está falando, igualmente, quando promove congressos, simpósios, colóquios, workshops, oficinas, conferências e todo tipo de evento com os mais variados carimbos. Fala por meio dos palestrantes. Fala porque o evento foi promovido com seu apoio, ocorre em suas instalações, consome seu tempo, porque os palestrantes ou são afiliados à instituição ou foram convidados por docentes da instituição, foram portanto avalizados por gente da casa. É uma fala bem indireta, mas é uma fala. Também tem um público bastante específico: aqueles interessados ou obrigados que, coitados, muitas vezes são soterrados por exposições enfadonhas de 20 minutos em série (coalhadas de PowerPoint mal utilizado), seguidas por perguntas que não acabam nunca, tudo pelo tão desejado certificado de participação.
Especificamente no caso da Unicamp, talvez a principal maneira de “falar” (indiretamente) com a sociedade seja através dos serviços e da assistência prestados. O Hospital de Clínicas é um exemplo. Milhões de pessoas de fora da instituição consideram que a Unicamp é… sua área de saúde. Neste caso, a universidade fala tanto através de filas, más condições de atendimento ou banheiros sujos quanto através de excelentes enfermeiros(as), médicos(as) e tratamentos. A universidade fala através da arte, da música, dos colégios, dos programas de extensão[3].
Os exemplos acima (que não esgotam todas as possibilidades) constituem comunicação indireta da universidade com a sociedade. Que fique bem entendido: aulas, pesquisas, encontros acadêmicos, o atendimento médico, a extensão etc. formam o núcleo de atividades de uma boa universidade[4]. São atividades-fim que evidentemente envolvem comunicação[5]. Mas tocam públicos específicos, os diretamente envolvidos. Chegam a um público mais amplo apenas indiretamente (quando chegam).
É possível, então, imaginar forma mais direta de comunicação de uma universidade? Talvez quando o(a) reitor(a) fala por meio de nota oficial? Ou melhor ainda: quando o órgão máximo de representação acadêmica – seu “parlamento”, o Conselho Universitário – se pronuncia (com registro em ata, com vídeo na íntegra das sessões)?
Sim, certamente é forma mais direta de comunicação de uma universidade com a sociedade. Ocorre entretanto que, sendo fácil caracterizar esse tipo de comunicação como direta do ponto de vista institucional, em geral seus conteúdos são restritos à comunidade interna. Ou seja: essa sim é uma comunicação direta da instituição universitária, mas não para a sociedade e sim tão-somente para docentes, funcionários e discentes[6].
Já quando uma universidade fala por sua assessoria de imprensa, dá, de fato, um passo além. Está oferecendo aos meios de comunicação (jornais, emissoras de rádio e TV, revistas, os mais variados sites de informação) histórias interessantes sobre suas pesquisas. “Leia, ouçam, vejam: graças ao nosso trabalho, há avanços significativos neste ou naquele campo que é de interesse, ou deveria ser, do grande público. Venham conferir e mostrem ao mundo, por favor, daremos entrevistas, cederemos fotos, deixaremos vocês filmarem tudo.” Há limites, porém: quem decide o que será veiculado são… os veículos. E o tipo de assunto que os veículos “fisgam” depende de seu potencial sensacional (no sentido de causar sensação, chamar a atenção, dar audiência). Para não pecar por exagero, é necessário ressalvar que não é sempre assim, porque ainda há gente séria no jornalismo científico, realmente preocupada em tornar interessante o que é importante. Mas o médico e escritor britânico Ben Goldacre já sintetizou, faz tempo, qual é o padrão, o default, a média da cobertura: matérias excêntricas (wacky) ou matérias para meter medo (scare) ou matérias sobre supostos avanços retumbantes, gloriosos e para já (breakthroughs)[7]. Ou seja: tudo errado, ou quase tudo muito rápido, raso e, em última análise, desinformação.
Mas ainda que fosse tudo perfeito (não é), a chamada grande mídia vem reduzindo sistematicamente seu espaço para a cobertura de ciência – as razões dessa derrocada são tema para outra conversa. Se você duvida, pergunte ao veterano jornalista de ciência Herton Escobar [clique aqui para ler o artigo].
É por isso que a mais importante forma de comunicação de uma universidade – o caminho por excelência para que a universidade não seja calada, escanteada e irrelevante para a sociedade – é seu jornalismo próprio, “oficial”. Não “oficial” no sentido de apenas publicar no papel ou nas telas (ou gravar em áudio e vídeo) aquilo que agrada seus “oficiais”, seus dirigentes acadêmicos, aquilo que é pré-aprovado, não incomoda e de preferência promove carreiras individuais em cargos diretivos – aquele enfadonho e conhecido show de vaidades, regado com muita bajulação e retratos ruins.
O jornalismo oficial deve ser oficial porque consolida, enraíza, “constitucionaliza”, “oficializa” na Universidade um princípio simples mas potentíssimo: se a Universidade é a casa do conhecimento, da pesquisa, da dúvida metódica, da troca e também do embate (civil e respeitoso) de ideias, então sua comunicação por excelência é a jornalística, a que questiona, relativiza, contextualiza e põe às claras as diferenças de opinião, sem impedimentos ou interdições.
Quando a universidade não fala – não fala da forma acima descrita, a jornalística, que é a única digna de uma universidade, a única voz aceitável, plural e muitas vezes dissonante, característica da diversidade universitária –, das duas uma: ou está sonegando da sociedade a real riqueza de sua vida intelectual livre ou na verdade está paralisada pela intolerância (se é que, medíocre, já não está morta por dentro, mas atrasada para o velório).
Ricardo Whiteman Muniz é jornalista (Cásper Líbero, 2004), bacharel em direito (USP, 1993) e mestre em sociologia da religião (Metodista de São Paulo, 2000). Trabalhou em ONG internacional (comunicação e viagens de campo), na Exame.com (repórter de economia), no jornal O Estado de S. Paulo (subeditor de ciência, saúde, educação e meio ambiente) e no portal G1 (editor coordenador de ciência e saúde). É coeditor da revista digital ComCiência (parceria do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp com a SBPC) e professor da especialização em jornalismo científico do Labjor (cursos Comunicação de Universidades e Oficina de Jornalismo Científico II).
[1] Uma aula assim tão bem-sucedida em se espalhar pode ter chamado atenção de círculos mais amplos mais pelas qualidades retóricas do(a) professor(a), pela dinâmica que consegue imprimir à aula, por ser “engraçado”, porque este aqui fala muito palavrão, aquela ali canta ou declama lindos poemas, do que propriamente pelo conteúdo. Pode ser também (porém é mais raro) que chame atenção pelo conteúdo, que o conteúdo em si torne-se objeto de divulgação espontânea informal extraclasse.
[2] Diga-se de passagem, no entanto, que há indicações de que a esmagadora maioria dos artigos são de fato lidos por… quase ninguém.
[3] No programa “UniversIdade”, por exemplo, há mais de mil alunos e alunas com mais de 60 anos participando neste ano.
[4] Reginaldo Moraes resgata o conceito de “multiversidade” proposto por Clark Kerr, ex-reitor da Universidade da Califórnia no início dos anos 60: a multiversidade tem “várias almas, várias metas, vários senhores, várias comunidades, ou várias clientelas”. “Conforme lembra o professor Jacques Velloso, algumas universidades brasileiras têm hoje mais ou menos esse perfil, congregando uma grande variedade de unidades e serviços: bibliotecas, centros de documentação, arquivos e bancos de informações (não reservados apenas para seus estudantes), editoras e assessorias de comunicação (produzindo livros, jornais e revistas), museus, grupos de teatro, música e dança, orquestras sinfônicas e de câmara, corais, galerias de artes, estações de rádio e TV educativas, cineclubes, escolas de extensão, escritórios de transferência de tecnologia, clínicas psicológicas, assessoria empresarial e incubadoras de empresas, colégios de aplicação (primeiro e segundo graus).” (Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes, “Universidade hoje – Ensino, pesquisa, extensão”, Educação e Sociedade, vol. 19 n. 63, Campinas, agosto de 1998, acessado em 4 de abril de 2018).
[5] A comunicação embutida em atividades-fim (as quais, evidentemente, envolvem comunicação-interação) é diferente da atividade de comunicação jornalística da vida universitária e de seu trabalho para a sociedade.
[6] Há exceções: meses atrás a Unicamp soltou uma nota oficial “estranhando” a condução coercitiva de dirigentes da Universidade Federal de Minas Gerais pela Polícia Federal. É a universidade falando diretamente sobre um tema de interesse da sociedade. (Aliás, a mensagem foi breve mas clara: isso aí não se faz, ou não se fazia, está fora do padrão da normalidade democrática, por isso a estranheza.)
[7] “Don’t dumb me down”, The Guardian, blog “Bad science”, 8 de setembro de 2005, acessado em 4 de abril de 2018