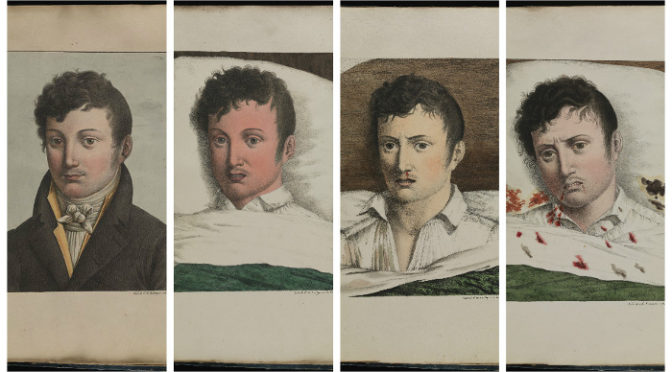Por Maria Alice Rosa Ribeiro
Aqueles que não aprendem com o passado estão condenados a repetir seus erros […]. Em poucas áreas esta assertiva é tão verdadeira quanto na saúde pública. Quem quer que se tenha dedicado a esta tão ingrata quanto fascinante atividade vive sob a permanente impressão do déjà vu; e pior, aquilo que foi visto, e que é visto, não é agradável. A cíclica volta das pestilências ao Brasil, ainda que em circunstâncias sempre variáveis, é uma prova disto (Moacyr Scliar,1993).
A Moacyr Scliar, in memoriam
Hoje, um surto de febre amarela nos amedronta. Ainda que a natureza seja distinta daquele que nos fins do século XIX e no início do XX atacou epidemicamente as cidades do litoral, Rio de Janeiro e Santos, mesmo assim nos sentimos inseguros.
Sabemos que aqueles surtos epidêmicos não se restringiram às cidades portuárias, alastraram-se para Campinas e para as cidades do interior, seguindo os trilhos da Paulista e da Mogiana. Durante 15 anos, a febre amarela eclodiu em algumas das cidades do chamado “oeste paulista”: Limeira, Rio Claro, São Carlos do Pinhal, Araraquara, São Simão e Ribeirão Preto.
Hoje, a febre amarela que ameaça as populações de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo tem sua propagação nas áreas rurais (não urbanas, por enquanto), nas regiões de matas e florestas; tem por vetor de transmissão do vírus o mosquito silvestre da espécie Haemagogus leucocelaenus e os primatas, como seu hospedeiro.
Se picados pelo Haemagogus, os macacos doentes passam a infectar novos mosquitos, que picam macacos sãos, perpetuando a reprodução da doença. Nos primatas, a letalidade do vírus é muito alta. Eles são extremamente vulneráveis e morrem rapidamente, mas há tempo suficiente para infectar novos mosquitos. O que nos amedronta é a possibilidade de o vírus transmitido pelo mosquito silvestre infectar o homem e o ciclo continuar a se reproduzir através da picada do Aedes aegypti, cuja presença nas cidades é imensa.
Hoje, a vacinação é a mais importante arma preventiva para evitar o desastre. Claro que ela não elimina a necessidade de cuidados permanentes para a eliminação dos viveiros do mosquito Aedes aegypti. Não se pode esquecer que o mosquito Aedes aegypti é o vetor dos vírus da dengue, da zika e da chikungunya. Exterminar os focos do mosquito e vacinar contra a febre amarela são as medidas prioritárias.
Nas décadas finais do século XIX, quando a epidemia de febre amarela matava, ano após ano, milhares de habitantes das cidades, desconhecia-se a natureza da doença, ignorava-se a forma de transmissão e não havia a vacina. Era um combate no escuro, sem conhecer o inimigo.
Vamos, neste texto, voltar ao tempo das epidemias de febre amarela nas cidades paulistas nas últimas décadas do século XIX, com o propósito explícito de reforçar uma ideia, uma lição: em saúde pública não se pode descuidar, pois “as pestes” voltam, mesmo que em circunstâncias diversas. Por isso o título: “Febre amarela … uma das histórias sem fim”.
Campinas, a porta de entrada para o “oeste paulista”: 1889, a primeira epidemia de febre amarela
Em 1889, Campinas foi surpreendida pela chegada da febre amarela, que pôs por terra a teoria de que a epidemia se fixara no litoral, em Santos e no Rio de Janeiro, e que não subiria a serra do mar. Até então, os surtos epidêmicos estavam restritos às cidades portuárias, dominadas por um intenso movimento de pessoas e de mercadorias e em precárias condições sanitárias.
A abolição da escravidão, ocorrida há menos de um ano, impulsionou a entrada de um maior fluxo de estrangeiros, financiados pela política da província de São Paulo de subsídio à imigração de trabalhadores para substituírem os escravos na lavoura do café. Campinas era a “capital agrícola de São Paulo”, posição alcançada graças à consolidação do café e à implantação de duas ferrovias, Paulista (1872) e Mogiana (1873), que cortavam as terras campineiras, abrindo caminho para o escoamento da produção agrícola dos municípios situados à margem dos trilhos para Santos. O entroncamento ferroviário trouxe maior dinamismo à cidade, diversificação das atividades comerciais e industriais e atraiu famílias de imigrantes que ali se estabeleciam, após uma temporada de quatro a cinco anos na lavoura cafeeira. Em 1875, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro chegou a Mogi Mirim e, em 1883, a Ribeirão Preto, fronteira avançada do café. Por sua vez, os trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro percorreram Limeira, Santa Bárbara, Rio Claro, São Carlos do Pinhal, para, finalmente, atingir Araraquara, em 1884 – a “boca do sertão” ou a última fronteira do café.
Expansão das lavouras de café, ferrovias, constante renovação do fluxo de imigrantes e precárias condições sanitárias das cidades marcaram o cenário e a paisagem para a eclosão da epidemia de febre amarela. Campinas, umas das cidades mais antigas e ricas da região cafeeira, pertencente ao já denominado “oeste velho” – em contraposição ao “oeste novo”, representado por São Carlos do Pinhal, Araraquara, Ribeirão Preto –, não possuía rede de água e de esgotos; as ruas eram mal calçadas e sujas; os serviços de limpeza e de recolhimento do lixo, insuficientes. A cidade mantinha permanentemente um solo impregnado de umidade pelo excesso de águas paradas e de córregos e riachos que transbordavam nos verões quentes das épocas das águas (dezembro a março).
1889, crônica de uma morte anunciada: a jovem suíça, professora de francês
A epidemia eclodiu em fevereiro. A crônica da cidade relata que a primeira pessoa que morreu em decorrência da doença foi Rosa Becker, de 24 anos, imigrante de nacionalidade suíça, recém-chegada ao Brasil. Vinha para Campinas com o propósito de se empregar como professora de francês. Provavelmente, adquiriu a doença no porto de desembarque, Santos ou Rio de Janeiro, no qual grassava um surto epidêmico de febre amarela.
Ao chegar a Campinas, a jovem hospedou-se na casa de uma família suíça, proprietária da Padaria Suíça, situada à rua do Bom Jesus (hoje Campos Sales). Na crônica campineira não há registro do tempo de vida da jovem adoentada; sabe-se que o atestado de óbito, assinado pelo médico de origem alemã, Germano Melchert, registrou a morte no dia 10 de fevereiro de 1889 e causa mortis – febre amarela. Os próximos óbitos ocorridos, ainda no mês de fevereiro, foram de pessoas da família de Ulrich Banninger, dono da padaria, e de clientes ou frequentadores do estabelecimento comercial.
A gravidade da epidemia, que se aclimatava à cidade, foi anunciada pelo médico Eduardo Guimarães, que assinara o atestado de óbito do menino Urbano, órfão, de 9 anos, natural de Campinas, que nunca saíra da cidade. O fato de ser a vítima autóctone, ou seja, natural de Campinas e sem ter se ausentado da cidade, trouxe maior preocupação ao médico. Não eram os estrangeiros, recém-chegados, que traziam a febre, como até então se supunha: existiria alguma causa local desconhecida. Assim, o mês de fevereiro fechou com quatro óbitos de febre amarela, todos relacionados à Padaria Suíça, sendo três pessoas da família Banninger. No mês de março, mais dois casos ligados ao estabelecimento comercial ou às cercanias. A partir de março, a epidemia espalhou-se pelo centro da cidade, para lugares mais distantes do quarteirão da padaria, e os óbitos passaram a ser emitidos às dezenas e centenas. O pânico tomou conta da população, que buscou, no êxodo, a salvação.
Em 1886, o município de Campinas contava com 41.253 habitantes. Para o ano da epidemia não temos censos oficiais, mas se estima que a população urbana fosse da ordem de 15 a 20 mil habitantes e que tivessem permanecido na cidade de 3 a 5 mil. O número estimado de óbitos foi da ordem de 1.200. Qualquer uma das duas estimativas – população que ficou na cidade e número de óbitos – mostra a gravidade da epidemia. Abandonaram a cidade famílias de posses, com propriedades na zona rural ou com amigos ou parentes moradores em outras localidades; restaram pessoas sem ou com parcos recursos e em piores condições de moradia. Empresas comerciais e industriais e escolas fecharam as portas; retiraram-se para municípios fora da rota da epidemia. O Colégio Florence, dirigido por Carolina Krug Florence, foi transferido para Jundiaí; as firmas produtoras de máquinas e implementos agrícolas, Cia McHardy e Cia Lidgerwood, encerraram as atividades, transferiram-se para a capital. Várias farmácias também fecharam suas portas: restaram apenas oito, entre elas a Imperial, de propriedade do farmacêutico e vereador Oto Langgaard; Ipiranga, de Joaquim Ulisses Sarmento & Cia; Florence, de Jorge Florence & Cia.; Popular, de Axel E. Severin & Cia. Dos 20 ou 21 médicos atuantes na cidade apenas três permaneceram, cuidando dos doentes: Ângelo Simões, Germano Melchert e João Guilherme Costa Aguiar.
Ao chegar a Campinas, o professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, José Maria Teixeira (1854-1895), chefe da comissão médica de socorro enviada pelo imperador D. Pedro II, descreveu seu sentimento de desolação e tristeza: “Foi dolorosíssima a impressão que sentimos em Campinas: o terror tinha se apoderado da população, a fuga era geral, a cidade estava abandonada e quase deserta! Ruas extensas e retas com centenas de casas fechadas e sem um transeunte” (Santos Filho; Novaes, 1996, p. 37).
Uniram-se esforços para debelar a epidemia: a Câmara Municipal de Campinas, por meio da comissão de higiene e do intendente, José Paulino Nogueira, e do delegado de higiene de Campinas, Antonio Alves Banho; o governo da província, por meio da comissão provincial formada por 35 profissionais, entre médicos, acadêmicos de medicina, desinfetadores e outros empregados, chefiados por Francisco Marques de Araújo Góis. Entre os médicos estavam Adolfo Lutz e Bráulio Gomes. Por fim, o governo imperial formou a comissão do governo geral, chefiada por José Maria Teixeira.
Um reforço muito importante veio da imprensa fluminense: à exceção de um único jornal, O País, todos os jornais do Rio de Janeiro participaram da mobilização, que arrecadou, por meio de uma ampla campanha, donativos para os pobres e doentes de Campinas. Além dos donativos, a imprensa fluminense enviou a comissão da imprensa fluminense, chefiada pelo médico Clemente Ferreira, para cuidar dos doentes.
As quatro comissões dividiam entre si as tarefas práticas de profilaxia, como desinfecções de habitações, visitas domiciliares, vistorias dos pântanos, das latrinas, dos poços e tanques de água de serventia e visitas aos doentes distribuídos pelas enfermarias da Santa Casa de Misericórdia, do Circolo Italiani Uniti (depois Casa de Saúde de Campinas), da Sociedade Portuguesa de Beneficência, do Lazareto Guanabara e da enfermaria na Escola Municipal Correia de Melo.
Em fins de maio e no início de junho, a epidemia extinguiu-se, e as comissões de socorro voltaram para os locais de origem. Em todos os cinco surtos (1889, 1890, 1892, 1896 e 1897 best folding shovel), a epidemia desenhou o mesmo movimento no tempo: começou em fevereiro, intensificou-se em março e abril e seguiu em declínio em maio. Em junho, não havia mais registro de casos.
Quanto à origem das vítimas, nas correspondências dos médicos que aqui atuaram há algumas referências. Clemente Ferreira afirmava: “Os pretos têm sido relativamente poupados; entretanto, alguns têm pago um tributo à terrível enfermidade” (Santos Filho; Novaes, 1996, p. 62). Costa Aguiar, médico residente em Campinas, um dos poucos médicos que não debandou da cidade, transferiu apenas sua família para a fazenda do seu sogro em Itu. Na correspondência com familiares, informava que, dado o grande número de doentes de origem italiana, foi montada uma enfermaria destinada ao tratamento de italianos. Ele se tornou o médico-chefe responsável pela enfermaria no Circolo Italiani Uniti. Na correspondência dizia:
“Continuamos a lutar com o dragão que ameaça devorar a população desta cidade. Creio que das pessoas que não puderam sair, raras serão as que escapem da ação terrível do contágio. O número de médicos está muito reduzido; mas hei de ser dos últimos a sair. […] Vai-se criar mais uma enfermaria, exclusivamente para italianos, que são os que mais morrem” (Santos Filho; Novaes, 1996, p.78).
Na Santa Casa de Misericórdia, o médico Ângelo Simões, chefe da enfermaria, registrou que a maioria dos enfermos era de brasileiros. Dos 120 doentes amarílicos: 55 eram brasileiros, 20 italianos, 20 portugueses, 10 franceses, 5 alemães, 4 suíços, 4 dinamarqueses, 1 belga e 1 espanhol (Santos Filho; Novaes, 1996, p. 138).
Era de se esperar que a Santa Casa atendesse um maior número de brasileiros do que as enfermarias destinadas a nacionalidades específicas, como a do Circolo Italiani e a da Sociedade Portuguesa de Beneficência. É provável que os imigrantes italianos fossem os mais atingidos, proporcionalmente, do que os brasileiros ou de outra nacionalidade. Entre 1886 e 1900 havia 6.063 italianos, e a população total de Campinas (município) era 41.253, em 1886; e 67.694, em 1900.
No livro Histórico da epidemia em Campinas, Alfredo Carneiro calculou que o número de mortos foi de 1.200: 816 homens (68%), 285 mulheres (24%) e 99 crianças (8%). Quanto às nacionalidades, os imigrantes foram os mais atingidos: em primeiro lugar, os italianos, com 406 mortos, 34 % do total. (Santos Filho; Novaes, 1996, p.139).
Costa Aguiar foi o médico que melhor expressou o sentimento de frustração diante da inoperância das prescrições médicas em debelar o mal. A epidemia extinguiu-se mais por falta da matéria humana, ou seja, de gente, do que pela ação dos remédios, das desinfecções, do fumacê com alcatrão etc. Despovoada a cidade, as únicas pessoas que restaram já haviam adoecido e adquirido imunidade, proteção contra a doença. Escrevia Costa Aguiar: “[…] Campinas, onde custa ver-se uma casa aberta, a peste ache pasto abundante para fazer 30 vítimas como ontem, e 50 como anteontem” (Santos Filho; Novaes, 1996, p.78). Costa Aguiar adoeceu e morreu em 19 de maio, já no final da epidemia. Como previra, foi um dos últimos a sair. Faleceu também, em decorrência da febre amarela, a única mulher destacada pelos cronistas nos cuidados dos pacientes da enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, a Irmã Serafina.
A epidemia alertou para a urgência da instalação da rede de água e de esgoto e da melhoria das condições de saneamento, assim como para a necessidade de organizar o serviço sanitário para a província de São Paulo. Após a Proclamação da República, foi criado o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo (1891-1892). Em 1891, Campinas inaugurou a primeira rede abastecimento de água e, em seguida, a de esgoto, em 1892. As obras foram realizadas pelo engenheiro-chefe da Cia Campineira de Água e Esgotos, Francisco de Sales Oliveira Júnior, pai de Armando de Sales Oliveira.
Seguiram-se em Campinas outras eclosões de febre amarela, de menor proporção, nos anos de 1890 e 1892, e casos endêmicos em 1893 e 1895. A ocorrência de surtos em Santos servia de advertência de que o mesmo se replicaria nas cidades do interior, destino das centenas de imigrantes que desembarcavam. Posteriormente, as primeiras epidemias eclodiram em Rio Claro, em 1892; São Carlos, em 1895; e Araraquara, em 1895, locais receptores de trabalhadores imigrantes. As últimas ocorreram em Ribeirão Preto e São Simão em 1904 (Ribeiro; Junqueira, 2011).
Número de óbitos de febre amarela em Campinas 1889 a 1897
| Ano | N. de Óbitos |
| 1889 | 1.200 |
| 1890 | 334 |
| 1891 | 0 |
| 1892 | 198 |
| 1893 | SD |
| 1894 | 0 |
| 1895 | 20 |
| 1896 | 787 |
| 1897 | 325 |
Fonte: Santos Filho; Novaes, 1996.
Ao período endêmico sucedeu, em Campinas, o epidêmico, de grande intensidade: cerca de 1.700 casos de febre amarela foram notificados em 1896. Na narrativa de surgimento da epidemia uma peculiaridade vem à tona – o primeiro caso de óbito por febre amarela era uma senhora que veio não de Santos, mas de Araraquara, onde havia um surto epidêmico.
Nesse momento, a teoria hídrica como causa da febre amarela foi questionada, pois a cidade desde 1893 contava com serviço de abastecimento de água encanada; portanto, a água não poderia ser culpada.
Diversa das outras quadras epidêmicas, a de 1896 contou com a ajuda da comissão sanitária estadual, composta por dois médicos e sete desinfetadores, sob a direção do médico inspetor sanitário Diogo de Faria. Constava do relatório redigido por Emílio Ribas que foram removidos para o Lazareto do Fundão, hospital de isolamento situado ao lado do Cemitério do Fundão (hoje Cemitério da Saudade), cerca de 324 doentes, dos quais 184 faleceram. Nas demais enfermarias, na Escola Correia de Melo e na Sociedade Portuguesa de Beneficência, foram internados 126 e 127 e morreram, respectivamente, 48 e 24.
Apenas essas instituições atuaram no isolamento dos doentes. Há controvérsia sobre o número de óbitos e de afetados, e os dados variam de 787 mortos, de um total de 1.644 notificados, a 782 óbitos, de um total de 1.522 afetados. No registro de óbitos, cartório da Conceição, há o número de 643 mortes por febre amarela. A eclosão epidêmica estava associada à chegada de novos imigrantes não imunizados. A maioria dos óbitos era de italianos, atingindo 253, seguidos de portugueses, 126; brasileiros, 117 etc. Ocorreram falecimentos nas fazendas em virtude de os imigrantes adoentados trabalharem nas lavouras de café.
Ao término da epidemia de 1896, o governo do estado designou uma comissão sanitária permanente, dirigida pelo médico e inspetor sanitário Emílio Ribas. E foi instalado o Desinfetório Central de Campinas (1896-1918) no espaço onde funcionava o Mercado Grande (1861), que hoje corresponde ao local onde funciona a antiga Escola Normal ou o Instituto de Educação Carlos Gomes, na Av. Anchieta.
Além da ação dos desinfetadores, a cidade sofreu uma radical drenagem do solo, secagem de terrenos alagadiços, charcos, brejos, que se espalhavam na área central e na periferia da cidade. Permaneceram as medidas de vistoria de casas de moradas, eliminação de recipientes para o lixo, remoção de doentes para o isolamento. A ação da comissão sanitária estava de acordo com a direção do Serviço Sanitário de São Paulo, que coordenou a tarefa e, mais do que isso, agiu de forma a antecipar-se à chegada do surto epidêmico.
Preparar a cidade para enfrentar a epidemia foi a política implementada. Emílio Ribas dividiu a cidade em 5 distritos sanitários, cada um com 900 casas, mais ou menos, que eram sistematicamente vistoriadas por um médico acompanhado por desinfetadores. As vistorias seguiam as normas estabelecidas pelo primeiro código sanitário do estado de São Paulo, de 1894 (Ribeiro, 1993).
Em paralelo à comissão sanitária, atuava a comissão estadual de saneamento, chefiada pelo engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito. Essa comissão iniciou os trabalhos de construção de um novo plano de abastecimento de água, retificando o que fora feito por Francisco de Sales Oliveira Júnior; construção de um novo coletor de esgotos e de incineração do lixo; construção do canal de saneamento (existente até hoje, na Av. Orozimbo Maia); e galerias subterrâneas de drenagem e canalização das águas pluviais e dos diversos riachos e córregos que cortavam a cidade.
A ação das duas comissões foi fundamental para reduzir a eclosão da epidemia de 1897 e acabar com os surtos epidêmicos. Depois desse ano, Campinas se viu livre das epidemias. Em 1898, Emílio Ribas deixou a chefia do 2.º Distrito Sanitário Estadual, sediado em Campinas, para assumir a direção do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, cargo que ocupou até 1913.
Epílogo: A miséria da nossa ciência…
Em um momento de desabafo, o médico Costa Aguiar escreveu a frase “A miséria da nossa ciência” (1889). Ele estava diante da incapacidade de debelar a epidemia de febre amarela. Apesar de imensos esforços para salvar os doentes, as mortes se sucediam. Durante as cinco epidemias que grassaram em Campinas e em outras cidades do oeste paulista, se desconhecia a real forma de transmissão da doença. O combate era travado com um inimigo desconhecido. Tantos foram os ataques a esmo impingidos, que alguns acertaram sem saber.
Somente em 1902-1903, nas históricas experiências realizadas no Hospital de Isolamento de São Paulo, hoje Hospital Emilio Ribas, comprovou-se a teoria formulada pelo médico cubano, Carlos Finlay, que o transmissor do vírus da febre amarela era o mosquito Stegomya fasciata, hoje denominado de Aedes aegypti. Só então o combate ao mosquito teve início e foi posto em prática nas últimas epidemias de febre amarela no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto e São Simão, em 1904.
Maria Alice Rosa Ribeiro é pesquisadora colaboradora do Centro de Memória – Unicamp, professora livre-docente, aposentada, FCL-Unesp, campus de Araraquara.
Referências bibliográficas
Ribeiro, M. A. R. História sem fim…inventário da saúde pública. São Paulo: Editora Unesp, 1993.
Ribeiro, M. A. R.; Junqueira, M. P. “A saúde pública nas cidades de Rio Claro, São Carlos e Araraquara em fins do século XIX”. In: Mota, A.; Marinho, M. G. S. M. C. Práticas médicas e de saúde nos municípios paulistas: A história e suas interfaces. São Paulo: USP, Faculdade de Medicina, 2011. p. 235-258.
Santos Filho, L. de C.; Novaes, J. N. A febre amarela em Campinas 1889-1900. Campinas: área de Publicações CMU/Unicamp, 1996.