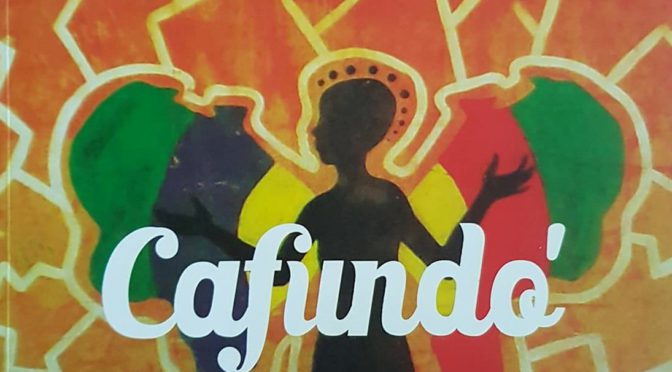Por Carlos Vogt
Eu sou um homem invisível. Não, eu não sou um fantasma como aqueles que perseguiam Edgar Allan Poe; tampouco sou um ectoplasma do cinema de Hollywood. Sou um homem de substância, de carne e osso, de fibra e líquidos — e pode-se dizer que possuo até mesmo uma alma. Eu sou invisível, entendem, simplesmente porque as pessoas se recusam a ver-me.
Assim começa o prólogo do livro de Ralph Ellison (1972, p. 3), Invisible man, publicado pela primeira vez em 1947, nos Estados Unidos.
Aparece aqui em forma epigráfica porque de algum modo nos leva a pensar no problema da individualidade cultural do visível, em particular na invisibilidade do Cafundó, situado tão perto de São Paulo e durante tanto tempo tão longe de nosso conhecimento e de nossas preocupações intelectuais ou jornalísticas.
A sua “descoberta” é relativamente recente. Data de 1978. Para ser mais exato, do dia 10 de março de 1978, quando lá estiveram os primeiros jornalistas. As primeiras notícias apareceram no jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, e em O Estado de S. Paulo no dia 19 de março do mesmo ano. Nesse dia também estivemos no Cafundó pela primeira vez.
O Cafundó é um bairro rural, situado no município de Salto de Pirapora. Está a 12 quilômetros dessa cidade, a 30 de Sorocaba e a não mais de 150 quilômetros de São Paulo1. Sua população, predominantemente negra, divide-se em duas parentelas: a dos Almeida Caetano e a dos Pires Pedroso2. Cerca de 80 pessoas vivem no bairro. Destas, apenas nove detêm o título de proprietários legais dos 7,75 alqueires de terra que constituem a extensão do Cafundó. São, conforme voz corrente na comunidade, terras doadas a dois escravos, ancestrais de seus habitantes de hoje, pelo antigo senhor e fazendeiro, pouco antes da Abolição, em 1888. A doação feita a duas irmãs — Ifigênia e Antônia3, que estão na origem das duas parentelas — teria sido muito maior. A especulação imobiliária, a ambição dos fazendeiros circunvizinhos e a falta de documentação legal por parte de seus legítimos donos foram encolhendo a propriedade para as proporções que hoje tem. Nela, seus moradores plantam principalmente milho, feijão e mandioca. Nela, criam galinhas e porcos. Tudo em pequena escala, apenas para atender a parte de suas necessidades de subsistência. Fora dela, trabalham como diaristas, boias-frias e, às vezes, no caso das mulheres, como empregadas domésticas. Assim, participam de uma economia de mercado. Sua língua materna é o português, uma variação regional que sob muitos aspectos poderia ser identificada ao chamado dialeto caipira, tal como o apresenta, por exemplo, Amadeu Amaral (1976). Usam, além disso, um léxico de origem banto, quimbundo sobretudo, cujo papel social na comunidade será referido mais a diante.
O fato de serem proprietários das terras em que vivem, aliado ao fato de falarem, como eles mesmos dizem, uma “língua africana”, constitui certamente a causa mais imediata da “descoberta” do Cafundó.
Tornado visível pelos interesses da ciência e dos meios de comunicação de massa, o Cafundó passa logo a ser objeto de disputa quanto a seu copyright. Se Benê Cleto é o primeiro a noticiar a “descoberta” no Cruzeiro do Sul, Sérgio Coelho, do mesmo jornal e ainda correspondente de O Estado de S. Paulo em Sorocaba, é quem dela se apropria, dando-lhe divulgação mais ampla. É ele também que virá à Unicamp buscar apoio da ciência para a “sua descoberta”, na tentativa de evitar que fosse explorada apenas noticiosamente. entra em contato com o então reitor Zeferino Vaz, que por sua vez nos procura, atraído que fora pela singularidade do caso e empenhado que estava em vê-lo pesquisado por professores de sua universidade.
Ao Cafundó acorreram jornais e revistas dos mais representativos do país: O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Folha de S. Paulo, Veja, Isto É, entre outros. Em matéria de televisão, a Rede Globo lá esteve mais de uma vez e mais de uma vez o Cafundó foi notícia do Fantástico. Otávio Caetano e Assis Pires são levados ao programa de Hebe Camargo na TV Bandeirantes. O primeiro, por ser considerado o falante mais ativo da “língua africana”, ao mesmo tempo que uma espécie de líder na comunidade; o segundo, por ter na ocasião apenas 13 anos de idade e trabalhar como professor na escola que o Mobral instalou no Cafundó. Tampouco faltou interesse da BBC, por meio de seus representantes no Brasil, entusiasmados que estavam com a possibilidade de mandar para a Inglaterra um documentário sobre uma autêntica tribo africana localizada nas proximidades de São Paulo, a maior e a mais industrializada cidade do país! Decepcionados, quem sabe, com a “brasileirice” dos usos e costumes dos habitantes do bairro, desistiram do documentário, que, no entanto, não deixou de ser feito por uma cadeia de televisão japonesa.
Os cuidados que tomávamos no nosso relacionamento com a imprensa, e que provavelmente eram recíprocos, não impediram alianças significativas em relação ao Cafundó. Assim, sempre esteve presente no noticiário o tema da “língua africana” associado ao tema da propriedade da terra. Essa associação nada tinha de inocente e fora veiculada por nós mesmos, pesquisadores, enquanto portadores de ideologia de resistência cultural e política4.
O caso da morte de Benedito de Souza, ocorrida no dia 18 de julho de 1978, e a sua repercussão na imprensa ilustram de modo significativo o que acabamos de dizer. Benedito de Souza, a mando do fazendeiro Fuad Marum, tentou nesse dia, contra a vontade dos habitantes do Cafundó, fazer cercar um pedaço de terra da comunidade, disputado já havia algum tempo. Otávio argumentou que só permitiria a colocação de arame farpado cercando as terras se os mandados do fazendeiro trouxessem um “papel da lei”. Benedito de Souza foi para Salto de Pirapora com o pessoal que trouxera para fazer o serviço. Ao voltar para o Cafundó, em vez da ordem legal, exibiu para Otávio e seus três sobrinhos — Noel, Adauto e Marcos Rosa de Almeida — um revólver, ameaçando-os de morte. Houve discussão entre os três rapazes e o jagunço; este acabou sendo morto por aqueles.
Esse mesmo Benedito de Souza, 12 anos antes, havia assassinado Benedito Rosa de Almeida, irmão de Noel, Adauto e Marcos, também por questões de terra e a mando de um outro fazendeiro de Sorocaba. O crime se deu no Caxambu, perto do Cafundó, onde havia uma comunidade negra proprietária das terras, falante de uma “língua africana” semelhante à do Cafundó e de onde emigrou a família Rosa de Almeida, cujo pai já era falecido e cuja mãe — dona Maria Augusta — vem a ser irmã de Otávio Caetano.
Dado o novo problema jurídico criado pelo assassínio de Benedito de Souza, o Jornal da Tarde, procurado por nós, respondeu, no dia 21 de julho de 1978, hiperbolicamente ao nosso pedido: deu manchete e fotografia de primeira página ao crime. Internamente reproduzia outra foto de Otávio e introduzia a matéria com o título, bem a caráter, em linguagem própria do Cafundó: KWIPA (KWIPA É MATAR) E UM HOMEM FOI MORTO NO CAFUNDÓ.
Sem dúvida, nosso objetivo era despertar interesse nacional pela comunidade, procurando ao mesmo tempo obter assistência jurídica para ela, no que dizia respeito à questão das terras e do assassínio. Chegamos a telefonar para a Comissão de Justiça e Paz em São Paulo, mas o que realmente nos movia era o desejo de ver incorporado na defesa do Cafundó o Movimento Negro unificado (MNu), fundado fazia muito pouco tempo, no dia 7 de julho do mesmo ano.
Surge então em cena Hugo Ferreira da Silva, advogado negro, integrante do MNU. Mostra-se interessado e convida-nos a falar com o movimento. Lá fomos nós. Da mesma forma procuramos a comunidade negra de Sorocaba por intermédio de seu clube social, o 28 de Setembro.
Num e noutro caso obedecíamos ao mesmo impulso ideológico: a crença de que o Cafundó era um símbolo de resistência negra, cujo alcance político, ainda que legitimasse nosso trabalho acadêmico, o ultrapassava. Era inconcebível para nós, brancos que somos, que esse símbolo não fosse incorporado na luta mais ampla dos movimentos negros. A seu modo, cada uma dessas entidades acabou por envolver-se com o Cafundó, envolvendo-o numa trama de relações que foram modificando e alargando as suas fronteiras culturais.
O MNU, Hugo Ferreira da Silva em particular, cria um Projeto Cafundó. Esse projeto, segundo a notícia publicada na Folha de S. Paulo no dia 11 de outubro de 1979, página 33, visava à “reconstrução da antiga comunidade e a proporcionar aos seus atuais componentes meios de sobrevivência”. O mesmo texto, além de convidar o público a participar do lançamento do projeto na Associação Brasileira de Imprensa, passava ainda a seguinte informação sobre o Cafundó: “mantém uma tradição oral-crioula brasileira com linguagem própria, derivada do tupi-guarani [sic] e de dialetos africanos falados pelos escravos dos quais são descendentes”.
O 28 de Setembro prestou uma assistência não apenas retórica ao Cafundó, agenciando e distribuindo auxílios como alimentos, roupas e sementes de várias procedências para os seus habitantes. Jorge Matos, membro e mais tarde presidente do 28 de Setembro, membro também do Rotary Club de Sorocaba, teve um papel de primeiro plano nessas atividades. A seu convite, fomos falar aos rotarianos sobre o Cafundó, na tentativa de obter mais assistência para a comunidade. Aqui também houve resultados. Médicos, dentistas, comerciantes e industriais se perfilaram para ajudar o Cafundó. Alimentos, sementes, plantadeiras manuais, arados de tração animal e até mesmo um burro foram doados. É verdade que o burro jamais foi encontrado. Ainda assim, valeu.
Além de Hugo Ferreira da Silva, outros dois advogados, ambos de Sorocaba, foram chamados a colaborar na defesa dos rapazes envolvidos na morte de Benedito de Souza: Antônio Santana Marcondes Guimarães, o mais conceituado criminalista da comarca, e Bernardino Antônio Francisco. O primeiro foi contatado por intermédio do jornalista Sérgio Coelho e o segundo, por intermédio do clube 28 de Setembro, do qual é membro e para o qual edita O Tambu, jornal que trata de assuntos afro-brasileiros.
Todas essas entidades tinham em comum aquilo que confessavam: a intenção de prestar assistência ao Cafundó. Partilhavam também um outro interesse menos claro: o de se autofortalecerem social e politicamente com base no espírito assistencial de suas ações. O resultado dessas atividades não poderia, entretanto, ser partilhado. As rivalidades logo surgiram.
Não se pretende que este relato tenha, nem de longe, a isenção de um narrador borgeano: a defesa de nossos interesses acadêmicos esteve frequentes vezes encoberta pelo nosso “apadrinhamento” do Cafundó.
O que se pretende, sim, é enfatizar, a partir desse caso particular, o problema mais geral da relação entre o intelectual e a assim chamada cultura negra no Brasil, insistindo sobre o aspecto de “descoberta” contido nessa relação.
O relato que aqui será feito é o de um narrador cientista que, interessado em relativizar o comportamento do outro, se descobre ele próprio relativizado diante desse comportamento. Um relato cujo narrador em terceira pessoa dá lugar a um narrador em primeira pessoa, isso é, a um narrador-personagem.
Se o MNU e o 28 de Setembro competiam pelo possível lucro político que adviria do Cafundó, nós outros também entrávamos em concorrência pública para auferir os lucros acadêmicos que daí poderiam ser tirados.
Entre os personagens desse pequeno drama lítero-intelectual, entraram em cena, além de nós, o Museu do Folclore de São Paulo, na figura do pesquisador Guilherme dos Santos Barbosa e, por intermédio deste, ligado também ao Centro de estudos Africanos da universidade de São Paulo, o etnólogo, musicólogo, linguista, poliglota austríaco Gehard Kubik.
Outros personagens apareceram ao longo do tempo e, como num folhetim romântico, foram reivindicando seu lugar na história: Waterloo José Gregório da Silva, do Instituto de Artes da Unicamp, escreve uma peça intitulada O charme discreto do Cafundó; Clélia Noronha defende uma tese de mestrado na Puc-Sorocaba, área de Arquitetura, cujo título é Cafundó; Abdias do Nascimento lança na Puc-São Paulo o Instituto de Pesquisa e estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro) e inclui o Cafundó no seu projeto básico de pesquisa sobre “Quilombos contemporâneos”.
Entre parênteses, é preciso mencionar ainda duas tentativas de influenciar diretamente a cultura material da comunidade: uma, bem-sucedida, é a de João Mercado Neto, de Sorocaba, que ensina o pessoal do Cafundó a fabricar tijolos de cimento, fornecendo-lhes para tanto material e instrumentos básicos. Em decorrência, as moradias, que eram de pau a pique e barro batido, cobertas de sapé, vão cedendo lugar a casas de cimento com cobertura de amianto. A outra tentativa, com resultados menos transparentes e cronologicamente anterior à primeira, é a do advogado, nosso conhecido, Hugo Ferreira da Silva. Ele pretendia que a comunidade se empenhasse na fabricação de peças de cerâmica que, depois de vendidas nos grandes centros, reverteriam em lucro para os seus autores. Chega a orientar a construção de um pequeno forno para a queima do barro e até mesmo a levar para o Cafundó fotografias de cerâmicas de Apiaí tiradas da revista Cultura, do Ministério da Educação.
Uma outra ideia do mesmo personagem foi a de transformar o Cafundó num museu vivo da escravidão. Nele estariam presentes não só instrumentos de opressão e tortura, como também haveria representações da vida social do escravo no Brasil. Os atores, é óbvio, seriam os habitantes do Cafundó. O objetivo, mais uma vez, era o de angariar fundos para a comunidade. Enfim, essa piedosa iniciativa também não deu certo.
O fato é que, se a questão entre o 28 de Setembro e o MNu se dava no plano de comportamentos políticos controversos5, entre os acadêmicos ela teria de se desenrolar no palco das controvérsias teóricas.
Assim foi.
Não nos terá faltado, a uns e outros, aquele motivo inconfesso que leva Brás Cubas a sonhar com a invenção de seu famoso em plasto, espécie de panaceia universal. Além do espírito humanitário e cristão, além dos lucros financeiros que dele poderiam advir, há a satisfação de ver seu nome brilhando nos céus da popularidade. Ou, para retomar as palavras do próprio Brás Cubas no romance de Machado de Assis (1962, p. 513): “[…] minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra virada para mim. De um lado, filantropia e lucro; de outro lado, sede de nomeada. Digamos: — amor da glória”6.
Crise de consciência à parte, trouxemos para o embate as armas de que dispúnhamos.
Kubik, por exemplo, é um viajante de sua própria teoria. Começa em Viena, tem seu campus avançado em Angola e projeta-se em significações filogenéticas sobre todo o mundo em que houve tráfico de escravos, de preferência bantos.
Kubik parece estar respondendo, quase cem anos depois, à advertência dramática de Sílvio Romero estampada como epígrafe no livro de Nina Rodrigues (1977, p. xv), Os africanos no Brasil. “[…] temos a África em nossas cozinhas, como a América em nossas selvas, e a europa em nossos salões […] Apressem-se os especialistas, visto que os pobres moçambiques, benguelas, monjolos, congos, cabindas, caçangas… vão morrendo…”.
A conferência por ele realizada na Universidade de São Paulo (USP) no dia 12 de setembro de 1980 é ilustrativa a esse respeito. Começa dizendo que seu ponto de vista em relação ao Cafundó “é diferente do ponto de vista da Europa, das Ciências Sociais e do ponto de vista brasileiro”. Embora não tenha ficado claro o que possa ser esse ponto de vista da África, é certo que a ortografia constitui um de seus pilares de sustentação. Senão, como captar a profundidade dessa observação feita pelo estudioso?
É um erro dos pesquisadores brasileiros escrever as palavras (da “língua africana”) numa ortografia brasileira. É preciso escrever as palavras numa ortografia banto. Do contrário, é impossível comparar o vocabulário do Cafundó com as línguas de Angola. Porque só se podem comparar coisas que têm um denominador comum.
A hipótese geral de seu trabalho, apresentada na conferência desenvolvida posteriormente no artigo “extension en Afrikanischer Kulturen in Brasilien” (Kubik, 1981) é que a comunidade do Cafundó tem uma relação direta com Angola, e que utiliza palavras cujas combinações não teriam necessariamente nenhum sentido, salvo talvez o de apontar para suas origens na África. De modo mais direto e um pouco menos elegante, Kubik chega a sugerir que os falantes do Cafundó são impostores na medida em que intencionalmente procurariam fraudar os ouvintes não iniciados na sua “língua”. Desse modo, desqualifica a atualidade semântica das palavras do léxico africano do Cafundó para reforçar a hipótese de sua autenticidade etimológica.
Além das palavras, escritas obviamente em “ortografia banto”, que para Kubik são na maior parte de origem umbundo, algumas outras provas foram também arroladas na demonstração da verdade de sua hipótese. Entre estas citaremos as duas mais espetaculares, não só por terem sido mais elaboradas pelo estudioso, como também pelo impacto de seu conteúdo.
A primeira consiste no ritmo da abanação do arroz com peneiras de taquara trançada. Depois de fazer a plateia ouvir várias vezes a gravação do som do arroz agitado na peneira, atirado para o ar e novamente recolhido na peneira, Kubik diz que “esse movimento não se encontra da mesma maneira na Europa” e acrescenta que ele “mostra uma integração emocional da comunidade do Cafundó com sua origem africana”. Conclui que esse ritmo é prova da origem africana dessa população.
A conferência continua com a projeção de alguns slides em que se veem paisagens e figuras humanas do Cafundó. Um dos slides é fixado. Nele aparecem dois meninos brincando com cabaças ou abó boras verdes e gravetos. estes são enfiados nos vegetais à guisa de pernas, rabo e cabeça. Brincam, como brincaram muitas crianças negras ou brancas em diferentes zonas rurais do país, com cavalos, bois e vacas improvisados com os frutos da terra. O slide permanece projetado, enquanto o conferencista anuncia o argumento definitivo de sua tese:
Nos jogos de meninos também encontrei vários elementos de Angola. Por exemplo, dois rapazes que fazem uma coisa que se chama ngombe. essa é outra palavra que é muito conhecida lá. É universal na África. Ngombe significa “vaca(s)”. Os meninos fazem ngombe de cabaças. É um jogo muito frequente em Angola. Nesses elementos encontram-se muitos elementos familiares de Angola.
Assim, descobrimos finalmente que aquilo que Kubik chama va de “ponto de vista da África”, além de um acanhamento teórico, nada mais era que uma perspectiva difusionista, historicizante e folclórica da cultura, na qual esta é reificada e tida como uma categoria explicativa e não como um fenômeno a ser explicado no conjunto de outras práticas sociais.
Nós, por outro lado, viajados pelas teorias que nos são própria s e alheias, isto é, de um ponto de vista brasileiro e europeu (em particular via antropologia social inglesa e um certo estruturalismo do discurso franco-tupiniquim), sem esquivar a questão das origens da comunidade e do léxico africano, buscamos responder a perguntas um pouco diferentes. Por exemplo: Por que cargas d’água essa comunidade continuou a utilizar esse léxico?
Qual o sentido cultural e político dessa prática linguística tanto no contexto das relações sociais primárias da comunidade quanto no contexto mais abrangente das relações produzidas como efeito da “descoberta”?
No caso da “língua” do Cafundó, como em todos os outros “africanismos” no Brasil, há, grosso modo, duas maneiras de abordar o assunto que por conveniência chamamos filológica ou historicizante e histórico-estrutural. No primeiro caso, a grande preocupação é estabelecer que certos traços culturais encontrados no Brasil contemporâneo de fato existem ou existiram na África. Essa “busca de origens” leva, após diligente pesquisa de fontes, a estabelecer o que chamamos genealogias culturais, que mapeiam a maternidade dos “africanismos” no Brasil. efetivamente, o cientista social, por meio desse exercício, acaba ou descobrindo “africanismos” dos quais os brasileiros não tinham conhecimento (é o caso de certos ritmos e palavras) ou legitimando com o carimbo cartorial da ciência as afirmações locais (agora no Cafundó, por exemplo, podemos constatar perante os céticos que a maioria das palavras da “língua” são de fato de origem banto). Essa perspectiva teórica filológica tende a diminuir a importância das condições históricas e sociais que fizeram e fazem com que tais traços culturais acabem sobrevivendo à travessia atlântica e se reproduzindo ao longo das gerações aqui no Brasil. Além disso, tende a minimizar o processo histórico ao longo do qual esses traços mudam de sentido e significação.
Que interesse tem estabelecer e pesquisar os “africanismos” no Novo Mundo? Quando Herskovits publicou o seu livro The myth of the negro past em 1941, logo no início declarou a sua intenção. As pesquisas sobre a cultura de origem africana nos EUA seriam uma tentativa de “melhorar a situação inter-racial” nesse país, por meio de uma compreensão da história do negro, até então ignorada. Todo o livro é construído para derrubar cinco “mitos” vigentes na época. Primeiro, que os negros, como crianças, reagem pacificamente a “situações sociais não satisfatórias”; segundo, que apenas os africanos mais fracos foram capturados, os mais inteligentes fugindo com êxito; terceiro, como os escravos provinham de todas as partes da África, falavam diversas línguas, vinham de culturas bastante variadas e foram dispersos por todo o país, não conseguiram encontrar um “denominador cultural” comum; quarto, que, embora negros da mesma origem tribal conseguissem, às vezes, manter-se juntos nos EUA, não conseguiam manter a sua cultura porque esta era patentemente inferior à dos seus senhores; e quinto, que “o negro é assim um homem sem um passado” (Herskovits, 1958, p. 2). Herskovits, no prefácio da segunda edição do livro (1958, p. xxix), reconhece que muita coisa mudara desde a primeira edição e diz:
De quando em vez, é verdade, ainda encontramos negros nos EUA e no Caribe que rejeitam o seu passado. Mas o número dos que fazem isso está diminuindo paulatinamente, como também o número dos seus concidadãos brancos que mantêm o ponto de vista anterior. e o negro americano, ao descobrir que tem um passado, adquire uma segurança maior de que terá um futuro.
A preocupação “filológica” de Herskovits pode ser vista, então, como um ato político numa determinada conjuntura do processo de transformação das relações entre negros e brancos nos EUA. O mero reconhecimento de que o negro tem história, por incrível que possa hoje parecer, foi uma luta. E também no Brasil. É mais do que evidente que a história do negro está apenas começando a ser escrita e não é por acaso que neste momento vários grupos politicamente minoritários exigem que a sua história seja revelada. Não surpreende, pois, que o Cafundó rapidamente virasse manchete.
Constatar a “sobrevivência” de uma “língua africana” é algo que em si tem um sentido político importante. Aponta para o fenômeno de “resistência cultural”. Mas essa “resistência cultural” não é um processo simples que se dá no confronto entre duas culturas imutáveis no tempo. Essa concepção de cultura leva a ver os “africanismos” no Brasil como sintoma de uma certa pujança metafísica das culturas africanas. Essa posição ignora que a vida social não consiste em batalhas campais entre culturas, mas sim em enfrentamentos entre grupos, categorias e indivíduos, para quem a cultura orienta a ação política e é ao mesmo tempo uma arma usada para empreendê-la. Nessas pequenas e grandes batalhas do dia a dia, a cultura vive através daqueles que a usam e, ao ser assim utilizada, ela os transforma e se transforma. Desse ponto de vista, fica evidente que a “língua africana” do Cafundó não é apenas a “sobrevivência” de uma língua banto qualquer; ela é acima de tudo uma prática linguística em constante processo de transformação e cujo significado político e social é dado pelo contexto das relações em que há vida.
É a segunda abordagem, a histórico-estrutural, que se detém nesses problemas. Põe-se diante do problema da reprodução e transformação da cultura e procura resolvê-lo por meio de um estudo das relações sociais concretas nas quais esses traços culturais se articulam. Privilegia a natureza política e econômica das relações entre os articuladores dos “africanismos” e a sociedade envolvente. No caso do Cafundó, privilegiaria a “caipiridade” do grupo, pondo em segundo plano a sua “africanidade”. O que se vê como sistemático numa abordagem torna-se, ipso facto, residual na outra, e vice-versa.
Nossa tentativa perante a “língua africana” do Cafundó é, como já se terá adivinhado, compreendê-la apontando para mais de uma direção ao mesmo tempo.
Ao que tudo indica, o seu papel social está relacionado com o que se pode chamar “uso ritual”, no mesmo sentido em que outras manifestações culturais de origem africana continuaram a existir no Brasil em várias comunidades negras (candomblé, congo, capoeira etc.). Em todos esses casos, uma outra identidade acrescenta-se àquelas que estão normalmente associadas à classe e à cor. No caso particular das pessoas do Cafundó, a “língua” acrescenta à sua identidade étnica de pretos e à sua identidade social de peões o status de “africanos”. Desse modo, a “língua” possibilita uma forma de interação social, quer no interior do grupo, quer entre este e a sociedade envolvente, que difere daquelas que normalmente caracterizam as relações de trabalho num sistema produtivo. Tudo se passa como se, por uma espécie de mecanismo compensatório, fosse criado um es paço mítico no interior da situação de degradação econômica e social, característica da história das populações negras do Brasil, espaço no qual seria possível uma como que renovação ritual de certa identidade perdida.
Assim, a “língua” pode ser vista não só como um sinal diacrítico que demarca simbolicamente a comunidade do Cafundó, mas também como um elemento importante nas interações sociais dentro e fora do grupo. Reconhecendo as origens africanas da “língua”, os brancos da vizinhança que tendem a ver a gente do Cafundó como “vagabundos” são também obrigados a atribuir-lhes uma certa importância, enquanto falantes dessa estranha linguagem. Muitos brancos da região, tanto os que vivem nas proximidades do Cafundó ou vieram delas, como os que convivem com os habitantes da comunidade em situações de lazer, nos bares de Salto de Pirapora, por exemplo, fazem questão, especialmente na presença de estranhos, de mostrar sua competência em falar a “língua”.
Com essa perspectiva analítica é possível começar a compreender por que esse sistema linguístico particular sobreviveu até o presente, apesar de não ser “necessário” para a comunicação. O português, língua materna da comunidade, é, desse ponto de vista, muito mais eficiente. A “língua africana” teria assim sobrevivido em parte por causa dessa função ritual nas interações estabelecidas dentro do grupo e entre este e o mundo exterior. Assim, África (mesmo que mítica) e cultura caipira (ainda que real) são, ao menos, dois entre os vários sentidos que se abrem a partir do Cafundó. Pobres, até mesmo miseráveis nas relações de trabalho e produção, pretos, vagabundos ou caipiras integrados à região em que vivem, os habitantes do Cafundó têm também o seu emplasto e seu motivo inconfesso: a “língua africana”.
Por que tanta e desencontrada “descoberta” do Cafundó? Por que tantos interesses multiplicados em torno de algo que no fundo é historicamente mais do que provável, dada a quantidade de africa nos forçados a vir para o Brasil como escravos?
Talvez pela proximidade de São Paulo, o maior centro urbano e industrial do país, onde os processos de transformação cultural são mais acelerados e onde, por isso mesmo, a expectativa de encontrar, ainda que nas suas vizinhanças, algo como o Cafundó é muito pequena. A violência do desenvolvimento de um centro como São Paulo e a existência nas suas redondezas de um grupo de pessoas que cons ervam ativamente um vocabulário de origem africana geram uma espécie de paradoxo que, com algum abuso do termo, podería mos chamar paradoxo de expectativa. Nascido da incompatibilidade, mais epistêmica e deôntica do que propriamente factual, entre des envolvimento econômico e complexidade social, de um lado, e conservação de traços culturais sem nenhuma razão estrutural de ser ao menos aparente, de outro, esse paradoxo explicaria a ênfase dada à “descoberta” do Cafundó, sobretudo quando se pensa em outras comunidades com características semelhantes espalhadas pelo Brasil e também já “descobertas”.
Mera hipótese!
De qualquer forma, é ela o motivo que leva Henfil (Isto É, no 74, 24/5/78, p. 82) a transmudar o Cafundó e a sua “descoberta” num truque humorístico para comentar o esoterismo casuísta, ou o casuísmo esotérico da política do governo federal: “Mãe, viu as novas descobertas de quilombos em pleno centro do Brasil? Imagina! Acharam um a 14 quilômetros de Salto de Pirapora, em São Paulo! Numa vila chamada Cafundó, vivem ainda puros negros que falam o dia leto que trouxeram da Africa!”. Depois de dar uma pequena lista de palavras do Cafundó com as suas equivalências em português, diz que ele mesmo achou um outro quilombo em Brasília, cujo dialeto após muitos estudos decifrou. Segue-se uma lista em que aparecem, por exemplo, greve = cruz credo!, SNI = candidato a presidente, comunista = oposição, eleição = meu primo etc. A carta dirigida à mãe termina com um PS, cujo conteúdo é ainda revelação de um idiotismo político: “Sabe o que significa a palavra democracia lá no quilombo de Brasília? um governo do polvo, pelo polvo e para o polvo”.
Esse paradoxo de expectativa funcionaria ainda para explicar atitudes e comportamentos extremos e contrários ao anterior. Por exemplo, a esperança do pessoal da BBC de Londres no Brasil de encontrar no Cafundó uma autêntica tribo africana intacta nas suas tradições.
É que, uma vez feita a “descoberta”, o que antes era menos passa depois a ser mais. Nós, os pesquisadores, por exemplo, fomos ao Cafundó pela primeira vez desacreditando das notícias que tínhamos sobre a comunidade, em particular sobre a “língua africa na” que falavam. Depois de constatar que de fato utilizavam ativamente um léxico de origem africana, passamos a esperar mais do que já tínhamos visto e registrado. Nesse sentido, devemos ter incentivado, consciente e inconscientemente, o pessoal a “falar africano”. Tanto que as crianças começaram a se oferecer, assim que chegávamos ao bairro, para mostrar os progressos que faziam na aquisição do vocabulário banto. De um certo modo, e sem muito exagero, todo mundo foi possuído pela vertigem de “enrolar a língua”. e nós, contentes com o que acontecia. Um dia Noel Rosa de Almeida nos diz que sua mulher, dona Isaura, sabia falar uma outra língua secreta porque era descendente de bugre. De fato, dona Isaura tem feições de índia! Isso, somado à esquizofrenia linguística de que éramos todos tomados no Cafundó e à disposição de espírito para as grandes e originais descobertas, levou-nos a invadir a casa de dona Isaura armados de gravadores, máquinas fotográficas e sobretudo da esperança luminosa da revelação de mais um maravilhoso segredo histórico. Noel, o marido, nos acompanhava. Dona Isaura resistia. Falava de sua vida, de suas andanças de mulher pobre, de seu trabalho como doméstica na casa de famílias do Sul, de onde viera, do tempo que já estava ali no bairro, da quantidade de filhos, das necessidades por que passavam, e nada da “língua esquisita”. Depois de muita insistência nossa e do próprio marido, ela concorda em dizer alguma coisa. Nós nos preparamos para pelo menos um vocabulário tupi. Então, ela: “Schnaps trink” e “mangiare”. E era tudo o que conseguia dizer de diferente. Simplesmente, havia trabalhado em casa de alemães e italianos em Curitiba e retivera essas duas expressões, que pronunciava a seu modo e com muito constrangimento. Agradecemos-lhe a colaboração e, após alguns dedos de prosa a mais, saímos. Sentíamo-nos num misto de frustração e autoironia. Rimos bastante de nós mesmos. Talvez para compensar a desilusão de nossa ingenuidade opressiva.
Entretanto, em qualquer hipótese, é preciso levar também em conta que aquilo que se “descobre” nunca é independente do momento da “descoberta”.
O Cafundó veio a público em 1978. A África tem sido “descoberta” no Brasil desde o século XIX de formas muito diferentes.
A literatura abolicionista, de Castro Alves a Joaquim Nabuco, tratou o negro no Brasil como um problema homogeneizado pela escravidão, enquanto mácula.
A advertência de Sílvio Romero aparece no mesmo ano da Abolição. Nina Rodrigues, que aceita o desafio, vive no livro Os africanos no Brasil a contradição entre as chamadas teorias científicas da época, baseadas principalmente em Lombroso, e a simpatia pelo problema do negro, conforme já assinalara Edison Carneiro (1964, pp. 209 e ss.). De um lado, uma teoria fundada na reação da burguesia contra o socialismo nascente e que se apega ao princípio da hierarquia racial; do outro, o esforço em mostrar a pureza e a autenticidade nagô na Bahia. É como se Nina Rodrigues utilizasse os princípios de pureza racial para subvertê-los pela sua aplicação extrema e contrária: o elogio da pureza negra. Adota uma teoria de fundamento racial e mesmo racista e é levado ao extremo oposto ao valorizar a pureza negra dos ritos religiosos de origem africana na Bahia. E, por falar em paradoxo, eis aí mais um, quem sabe muito parecido historicamente ao que caracteriza a atitude de Euclides da Cunha diante do sertanejo nordestino em Os sertões.
Num outro momento, na década de 1930, com preocupações regionalistas e nacionalistas, a África no Brasil será um sinal diacrítico a distinguir ao mesmo tempo o Norte e o Sul do país e o próprio país do resto do mundo, em particular da Europa.
Se já não é o conceito de raça que define a pureza das tradições, mas sim o de cultura, se o negro deixa de ser visto como um caso de patologia médica, a singularidade de seus comportamentos culturais tampouco deixa de obedecer a uma escala de valores na qual o autêntico é a nota máxima. Veja-se a propósito o artigo de Edison Carneiro (1964, pp. 98-102) — “O Congresso Afro-Brasileiro da Bahia” — escrito em 1940, no qual o autor, entre os vários elogios a esse congresso realizado em 1937, o contrapõe regionalmente ao Congresso do Recife, de 1934, e disputa com ele a primazia do autêntico, baseado na pureza das apresentações dos ritos para os congressistas:
Esta ligação imediata com o povo negro, que foi a glória maior do Congresso da Bahia, deu ao certame “um colorido único”, como já previra Gilberto Freyre. Artur Ramos, em carta que me escreveu sobre a entrevista ao Diário de Pernambuco, dizia: “O material daí que [Gilberto Freyre] julga apenas pitoresco constituirá justamente a parte de maior interesse científico. O Congresso do Recife, levando os babalorixás, com sua música, para o palco do Santa Isabel, pôs em xeque a pureza dos ritos africanos. O Congresso da Bahia não caiu nesse erro. Todas as ocasiões em que os congressistas tomaram contato com as coisas do negro foi no seu próprio meio de origem, nos candomblés, nas rodas de samba e de capoeira” (p. 99).
Interessante notar que essa linha genética (mais onto que filo, nesses casos) estende-se até nossos dias e constitui um argumento sempre avocado na defesa dos movimentos ou associações negras no Brasil. Veja-se, por exemplo, o que diz Lélia Gonzales no debate publicado pela Isto É (no 73, 17/5/78, p. 46), por ocasião dos 90 anos da Abolição. Para contestar o caráter alienado que muitos intelectuais ou não intelectuais atribuem ao Black-Rio7, diz ela:
[…] uma semana antes eu assisti o filme do Zé Celso Martinez, o 25, então percebi elementos assim incríveis. A gente percebe que a dança dos guerrilheiros de Moçambique não, não era dança, era treinamento, em termos de guerrilha, isto eu vi num show do Black-Rio, o mesmo tipo de movimento, ele se perpetua até nossos dias e, no entanto, o Black-Rio é encarado como movimento de alienação.
Estende-se, assim, no tempo, se não mais nos estudos que lhe são dedicados, ao menos na ideologia de sua defesa, aquela premissa apontada por Edison Carneiro (1964, p. 104) de que o negro era um estrangeiro. Essa premissa, segundo o autor baiano, teria feito com que nossos estudiosos fossem
encontrá-lo, de preferência, naquelas das suas manifestações de vida mais caracteristicamente africanas, e com especialidade nas suas religiões — um dos alvos da análise científica proposta por Sílvio Romero. […] estas duas atitudes — a de considerar o negro como um estrangeiro e a preferência pelas suas religiões — desgraçaram os estudos do negro.
Quanto a esta última observação, não estamos muito certos da extensão da tragédia intelectual que ela pinta. O próprio Edison Carneiro, num artigo escrito em 1956 — “Nina Rodrigues” (Carneiro, 1964, pp. 209-17) —, em meio a várias críticas, não deixa de reconhecer todos os méritos devidos ao médico maranhense. Entre esses méritos está certamente o de ter proposto um método comparativo para o estudo dos comportamentos do negro no Brasil e na África. Edison Carneiro e Artur Ramos, apesar das diferenças que entre eles existem, foram herdeiros comuns desse método, ao qual, aliás, não poupam elogios e do qual diz explicitamente o primeiro: “Línguas, religiões e folclore eram elementos dessa comparação a que a história dava a perspectiva final. Deste modo ganhou o negro a sua verdadeira importância em face da sociedade brasileira” (p. 211).
É a fase heroica dos estudos do negro no Brasil. Nela, a resistência intelectual alia-se à prática dessa resistência, por parte de alguns pais e de algumas mães de santo de alguns candomblés na Bahia, diante da desafricanização programática dos cultos no Sul do país; nela ainda há como que uma romantização do terreiro puro onde o conflito e a magia não aparecem, onde, numa aliança de interesses políticos entre intelectuais e produtores da cultura, uns servem aos outros8.
Os congressos de 1934, no Recife, e de 1937, na Bahia, apesar das disputas regionalistas pelo prestígio da autenticidade, partilham objetivos comuns: não apenas os de congraçar gente do povo e intelectuais, mas também, segundo os termos de Edison Carneiro (1964, p. 100), os de “contribuir para criar um ambiente de maior tolerância em torno dessas caluniadas religiões do homem de cor”; ou, conforme Gilberto Freyre (1937, p. 349 disposable bibs), os de permitir que muita gente se voltasse para o assunto e descobrisse “nessas ‘coisas de negro’ mais do que simples pitoresco […] uma parte grande e viva da ver dadeira cultura brasileira”.
No que diz respeito às alianças, o depoimento de Pedro Cavalcanti (1935, p. 244), apresentado no Congresso do Recife, é exemplar e exemplificador:
[…] em fins de 1932 reuniram-se na Diretoria Geral da Assistência a Psychopatas os paes e mães de terreiros do Recife, e ahi foram acertadas medidas sobre o livre funcionamento das seitas. Nós nos com prometíamos a conseguir da polícia licença para tal. Os paes de terreiro nos abririam as suas portas e nos dariam os esclarecimentos necessários para que pudéssemos distinguir os que faziam religião e os que faziam exploração.
Por outro lado, acreditamos que mesmo a “estrangeirização” do negro nessa fase heroica, se ocorreu, deve ser avaliada também de um outro prisma. Aquele que decorre do próprio heroísmo e romantismo da fase: seria preciso refazer a identidade do negro no país. Deixando de ser escravo, arriscava-se à marginalidade que o estigma da escravidão lhe impunha numa sociedade de homens livres. Era preciso, pois, considerá-lo estrangeiro, dar-lhe um passaporte e fazê-lo entrar novamente no país através da eleição e da dignidade de suas origens.
Vê-se por aí o quanto seria interessante comparar esse movimento com o movimento de valorização mítica do índio do século XIX. Razões e impedimentos históricos os separam no tempo em quase cem anos. Apesar das diferenças que certamente serão muitas e importantes, é preciso lembrar que já Sílvio Romero, na famosa advertência citada por Nina Rodrigues, chamava a atenção para a presença do negro na cultura brasileira fazendo menção da presença da América, vale dizer do índio, em nossas selvas. Pensando nessa possível comparação é que chamamos romântica essa fase dos estudos afro-brasileiros.
Contrariamente ao que muitas vezes se pensa, as alianças de interesse, as relações entre os intelectuais e os produtores da cultura negra mostram que o mercado da produção acadêmica não é restrito à própria academia. Na verdade, esse tipo de aliança gera compromissos mais amplos: aqueles em que o intelectual busca o autêntico e cartorialmente o autentifica. uma vez reconhecida a firma, o objeto da pesqui sa integra, como prova de sua autenticidade, o carimbo do intelectual9.
Beatriz Góis Dantas (1982, p. 162) observa que “o movimento de legitimação dos candomblés acompanhava o movimento de aproximação mítica com a África. Os pais de terreiro que não podiam viajar bebiam a África na literatura que no Brasil se produzia sobre as crenças e práticas rituais dos candomblés mais puros”.
Desse fenômeno há referências não só em Roger Bastide, que na década de 1940, em sua primeira viagem ao Nordeste, encontra muitos pais de santo possuidores dessa literatura, mas também em Edison Carneiro (1964, p. 208) para a Bahia, em particular no que concerne a Aninha do Axê Opô Afonjá, e René Ribeiro (1952, p. 103) para o Recife.
No Sudeste, algo de semelhante ocorria. Mas o que servia para legitimar, em cima, era tido como exploração e mistificação, embaixo. Tanto assim que no dia 5 de outubro de 1938 o Diário da Noite do Rio de Janeiro traz uma denúncia do mau uso que se fazia dos livros de Nina Rodrigues, de Artur Ramos, de Edison Carneiro e de Gonçalves Fernandes para atrair turistas e grã-finos e extorquir-lhes dinheiro em “autênticas macumbas” onde se negociava “com estas coisas cheirando a Africa” (apud Ramos, 1951, p. 159)10.
Não é muito diferente, sob alguns aspectos, a nossa relação com o Cafundó hoje; nem é tampouco muito desigual a atitude de dona Geni, com terreiro de umbanda em Pilar do Sul, que, chamada a intervir em assuntos graves da comunidade, mostra-se em seguida fortemente interessada em aprender a “língua africana” para dar maior legitimidade ao seu culto. Nós apadrinhamos a comunidade, compramos porcos, sementes, alimentos, incentivamos seus membros a não deixar o bairro, prestigiamos o uso da “língua africana”, que aos poucos foi adquirindo valor de troca, sobretudo nas relações com pesquisadores e com representantes dos meios de comunicação.
Assim, além do papel de língua secreta que os moradores do Cafundó conscientemente lhe atribuem, além da função ritual, menos aparente, que nós pesquisadores lhe reconhecemos, há este outro papel — o de mercadoria — instituído independentemente da vontade e do entendimento de uns ou de outros em particular, mas no interior de sua relação. Nesse caso, uma palavra do vocabulário banto do Cafundó não vale propriamente nem pelo que diz secretamente, nem pelo que esconde como parte de um ritual. Isto é, sendo sinal diacrítico, enquanto língua secreta, e signo de identidade mítica, no seu papel ritual, o léxico africano é também objeto de troca no comércio intelectual entre a comunidade e os pesquisadores.
Por volta de 1950 encerra-se, segundo Edison Carneiro (1964, 116), a fase afro-brasileira dos estudos do negro no Brasil. Embora sem praticá-la efetivamente, está ao mesmo tempo anunciando a chamada fase sociológica desses estudos. No mesmo artigo programático escrito em 1953 — “Os estudos brasileiros do negro” —, discutindo entre outras coisas o projeto patrocinado pela Unesco, ele escreve:
Se o negro com sua presença alterou certos traços do branco e do indígena, sabemos que estes, por sua vez, transformaram toda a vida material e espiritual do negro, que hoje representa apenas 11% da população (1950), utiliza a língua portuguesa e na prática esqueceu as suas antigas vinculações tribais para interessar-se pelos problemas nacionais como um brasileiro de quatro costados. Tudo isso significa que devemos analisar o particular sem perder de vista o geral, sem prescindir do geral, tendo sempre presente a velha constatação científica de que a modificação na parte implica modificação no todo, como qualquer modificação no todo importa modificações em todas as suas partes. (1964, p. 117)
Agora já não interessa mais o concerto ou o desconcerto do país em relação às nações desenvolvidas. É na dialética do universal e do particular que se hão de encontrar os caminhos para as nações do Terceiro Mundo. Mas esse empenho programático não terá, como dissemos, maiores consequências na obra de Edison Carneiro, e sim na da chamada escola Sociológica de São Paulo, com os trabalhos de Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, entre outros.
Um caso curioso pela dualidade de comportamento teórico é o do pesquisador francês Roger Bastide. Em As religiões africanas no Brasil (1971, p. 44) afirma em latim a sua identidade africana: “africanus sum”. Essa adoção espontânea e um tanto emotiva de uma identidade africana, coerente com parte de seus trabalhos, é, no entanto, um pouco surpreendente quando se levam em conta as suas preocupações teóricas presentes, por exemplo, no livro que escreve com Florestan Fernandes (1959) — Brancos e negros em São Paulo —, sob o patrocínio da Unesco.
Nessa época, a África já não tem a mesma importância epistemológica que tivera anteriormente. Importa, isto sim, a estrutura de classes no Brasil, a história particular do negro, primeiro como escravo, depois como trabalhador livre marcado pelo estigma do preconceito de cor.
Ao romantismo da fase precedente substitui-se, então, um realismo de inspiração sociológica, de fundo social e de aspiração socialista.
O movimento que se pode acompanhar nesses estudos, que comentamos de maneira bastante genérica, parece vir da análise em termos médico-legais para a análise culturalista e, enfim, para a análise sociológica, justamente na década em que, superada a questão da nacionalidade, quer em termos de raça, quer em termos culturais, o país não tem mais que se integrar em nenhum concerto universal de nações, mas ser um dos estopins da revolta terceiro-mundista contra a desigualdade e a injustiça social.
Mas 1978, quando o Cafundó foi “descoberto”, são outros anos.
O golpe militar de 1964 consolidou-se no poder; a guerrilha urbana foi esmagada pelas forças de repressão; os modelos universais de redenção social do homem adquirem figuras de impasses históricos; o humanismo de direita (o liberalismo) e o de esquerda (o comunismo) perdem-se nas disputas de áreas de influência e em confrontos da hegemonia política; nas entrelinhas do universalismo reaparece o indivíduo, tanto no sentido próprio quanto no de pequenos grupos e categorias: as chamadas minorias.
É mais ou menos nesse contexto, aqui delineado em traços rudes11, que o Cafundó é “descoberto”. Mas a própria descoberta, sobre o fundo de miséria e abandono que revela, tece o processo multiplicador de outras identidades. Africano e caipira, mítico e real, estranho e distante pela “língua secreta”, familiar e próximo pelas relações sociais de produção, o Cafundó é também o conjunto de representações que dele se vão construindo na diversidade de interesses que nele se cruzam.
Notas
* Este texto constitui o primeiro capítulo da obra Cafundó: A África no Brasil:Linguagem e sociedade. Carlos Vogt; Peter Fry; com a colaboração de Robert W. Slenes. 2a ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013. pp 23-47.
- Para melhor visualizar a localização geográfica do Cafundó, ver mapas no Apêndice 1, pp. 329-31.
- O termo “parentela” traduz a expressão e o conceito em inglês descending kindred, de acordo com o trabalho de Freeman (1961). Refere-se a um grupo corporativo (corporate group), no qual a inclusão dos membros depende, em primeiro lugar, de sua descendência do antepassado fundador (nesse caso, Joaquim Congo) e também do fato de seus membros permanecerem moradores nas terras pertencentes ao grupo.
- O leitor poderá encontrar no Apêndice 2, p. 333, uma genealogia que mapeia as relações de parentesco destas e de outras personagens que aparecerão ao longo do livro.
- A noção de resistência simbólica tem estado atualmente em grande voga nos meios intelectuais. Entre outras coisas, aponta para a não passividade dos grupos minoritários perante os grupos dominantes da sociedade mais ampla. Sob esse aspecto, a questão da terra é central e adquire ainda maior relevo no caso de índios e posseiros, dada a expansão das frentes de colonização e o desenvolvimento agropecuário incentivados financeiramente pelo Estado. No Cafundó, esses dois elementos — propriedade da terra e preservação do vocabulário africano — parecem estar estruturalmente ligados.
- O MNu é um movimento com fins abertamente políticos. O 28 de Setembro é um clube cujos objetivos explícitos são o lazer e a sociabilidade. O MNu tem dificuldade em reconhecer o aspecto político desses tipos de atividade social e tende a condená-los por essa razão. A aliança entre o 28 de Setembro e o Rotary de Sorocaba foi criticada por motivos semelhantes.
- Uma análise literária com sugestivas interpretações sociológicas do capítulo 2 — “O emplasto” — do romance Memórias póstumas de Brás Cubas é a de Roberto Schwarz (1982).
- Como no caso do 28 de Setembro, o Black-Rio e as manifestações culturais semelhantes, como por exemplo o Afro-Soul em Campinas ou o Chic-Show em São Paulo, não têm fins políticos explícitos. O fato é que tais movimentos se expandem desconhecendo o apodo de alienado que muitos lhes atribuem. Essa qualificação decorre provavelmente dos compromissos culturais e da dependência econômica para com as multinacionais que, segundo os que os condenam, lhes são próprios e característicos. Porque ao samba preferem a música importada dos Estados Unidos, porque suas atividades de lazer e sociabilidade se sobrepõem a princípios públicos de engajamento político, em vez da resistência simbólica que se reconhece em outros movimentos, recebem o carimbo da cooptação e do entreguismo. entretanto, não é assim que os veem as pesquisas de Carlos Benedito da Silva e de Maria Aparecida Pinto Silva, ambos do mestrado em antropologia da Unicamp.
- A tendência para romantizar o dominado contém, na prática, a tentativa de limpar a sua experiência de aspectos considerados negativos. No caso, as dissensões e disputas políticas internas ao grupo que a magia expressa. Mas tanto a solidariedade e a harmonia sociais, enquanto atributos de religiosidade, como o individualismo e as disputas políticas, enquanto predicados de magia, são, da mesma forma, constitutivos dos candomblés.
- Tanto as teorias raciais quanto as teorias culturalistas tendem a reificar a cultura. O carimbo do intelectual é um instrumento eficaz nessas abordagens, pois implica o reconhecimento da existência de uma cultura negra autêntica em algum lugar e em algum tempo. Tratar o problema da identidade com base nessa forma de conceber a cultura é semelhante a organizar continuadamente expedições para explorar o tempo e o espaço em busca de tesouros perdidos. Do nosso ponto de vista, identidade não é algo que se ache, como coisa escondida, mas algo que se constrói, que se forma nos processos efetivos de interação social.
- Essas informações foram também colhidas na tese de Beatriz Góis Dantas (1982). Nela, em particular no capítulo 4, há toda uma parte — “A significação da ‘volta’ à África e da exaltação do ‘nagô puro’” — que discute mais detalhadamente o problema.
- O painel aqui esboçado é, sem dúvida, incompleto. Tendências mais contemporâneas no estudo do negro no Brasil deveriam ser também apontadas. Entre elas, a que poderíamos chamar linguístico-antropológica, na qual nosso trabalho poderia estar inscrito, caracterizando-se, de fato, por fazer uma espécie de antropologia da linguagem. Seria preciso mencionar outras perspectivas de análise que, mesmo partilhando de atitudes teóricas comuns a outros tratamentos, têm às vezes elementos singulares de distinção. É o caso, por exemplo, da obra de Clóvis Moura, que, além de associar uma visão histórico-cultural do negro às significações estruturais de sua participação na sociedade brasileira, caracteriza-se também, entre outras coisas, pelo ativismo político de seu autor.